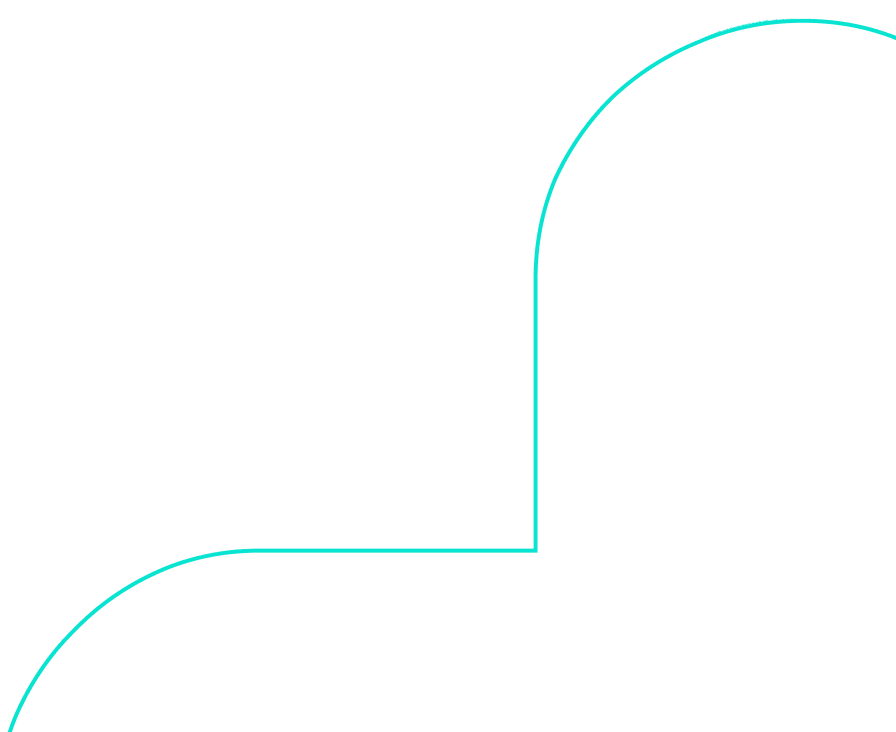A mobilidade urbana está presente em variados contextos das provas de concursos públicos, especialmente naquelas direcionadas para carreiras ligadas à gestão pública, urbanismo e transporte. Com a publicação da Lei 12.587/2012, o tema ganhou tratamento técnico e normativo detalhado, estabelecendo padrões que norteiam desde a organização dos serviços de transporte coletivo até a participação da sociedade no planejamento e fiscalização das políticas de mobilidade.
Dominar essa lei implica compreender conceitos fundamentais como acessibilidade, modicidade tarifária, gestão democrática e as responsabilidades dos entes federativos. O texto legal traz uma estrutura robusta de princípios, diretrizes e obrigações, frequentemente explorados em questões de Certames como CEBRASPE, que exigem leitura atenta à literalidade e interpretação dos artigos, incisos e parágrafos.
Durante esta aula, todo o conteúdo será pautado no entendimento fiel ao texto da lei, abordando de modo estruturado e sequencial cada dispositivo relevante, facilitando o domínio pleno do assunto para sua aprovação.
Disposições Gerais e Objetivos (arts. 1º a 3º)
Finalidade da lei
A Lei nº 12.587/2012 inaugura a Política Nacional de Mobilidade Urbana, sendo esta a referência para o ordenamento e a integração dos meios de transporte nas cidades brasileiras. Logo no início da lei, o legislador estabelece não apenas um vínculo direto com a Constituição Federal, mas deixa claro que o foco principal está na integração dos modos de transporte e na promoção da acessibilidade, tanto para pessoas como para cargas dentro do território municipal.
Repare como a finalidade da lei vai além de criar regras isoladas para o uso do transporte. Ela funciona como instrumento maior da política de desenvolvimento urbano. O artigo inicial já antecipa a ideia de que toda proposta ou ação em mobilidade urbana deve promover integração e melhoria concreta dos deslocamentos.
Art. 1º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.
Observe o uso das palavras “integração” e “acessibilidade” no texto legal. Elas não aparecem por acaso. “Integração” reforça que não basta ter diferentes meios e serviços — é preciso que eles se conectem e funcionem juntos para beneficiar o cidadão. “Acessibilidade”, por sua vez, amplia o alcance da política: o objetivo é garantir que todos possam se deslocar de forma autônoma e eficiente, independentemente de condição física, origem ou destino da viagem.
Não menos importante é o parágrafo único do artigo 1º. Ele obriga a política nacional a observar diretrizes contidas em outros diplomas legais, mais especificamente o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Quando a lei cita o inciso VII do art. 2º e o § 2º do art. 40 do Estatuto da Cidade, quer assegurar que princípios como função social da cidade, sustentabilidade e participação popular sejam respeitados na mobilidade urbana.
Parágrafo único. A Política Nacional a que se refere o caput deve atender ao previsto no inciso VII do art. 2º e no § 2º do art. 40 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).
Esse cuidado impede que as propostas de mobilidade urbana fiquem dissociadas de outros aspectos fundamentais do planejamento urbano. Repare como a lei costura a mobilidade diretamente à cidade sustentável, indo muito além do simples transporte.
No segundo artigo, a lei amplia a visão quanto à finalidade. Aparece com maior clareza a intenção de promover o acesso universal à cidade, fazer valer princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano — tudo isso por meio do planejamento democrático do sistema de mobilidade. A palavra “acesso universal” aqui é central: ninguém deve ser excluído das oportunidades ou dos espaços urbanos por barreiras de deslocamento.
Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
Note ainda o destaque à “gestão democrática”, expressão que aponta para a necessidade de participação e controle social. Assim, o cidadão não deve ser apenas usuário, mas também agente no planejamento, fiscalização e avaliação da política de mobilidade urbana de sua cidade.
O artigo 3º reúne toda a arquitetura do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Ele deixa explícito que o sistema não é formado apenas por veículos ou linhas de ônibus, mas por um conjunto coordenado e organizado de modos de transporte, serviços e infraestruturas, responsável por garantir deslocamentos tanto de pessoas quanto de cargas dentro dos municípios.
Art. 3º O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.
É fundamental perceber o detalhamento iniciado nos parágrafos seguintes desse artigo. Eles preveem conceitos e categorias essenciais para quem deseja compreender — e acertar! — questões de concurso sobre o tema.
Primeiramente, a lei separa os modos de transporte em duas grandes categorias: motorizados e não motorizados. Isso significa que, quando for avaliar políticas públicas ou controlar o uso da via, o gestor pode (e deve) considerar de modo diferente um ônibus, um automóvel, uma bicicleta ou um veículo de tração animal.
§ 1º São modos de transporte urbano:
I – motorizados; e
II – não motorizados.
No parágrafo 2º, surge a classificação dos serviços de transporte urbano a partir de três perspectivas: objeto, característica do serviço e natureza. Cada uma dessas divisões pode ser cobrada isoladamente em provas, exigindo do candidato atenção às distinções de cada classificação.
§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados:
I – quanto ao objeto:
a) de passageiros;
b) de cargas;
II – quanto à característica do serviço:
a) coletivo;
b) individual;
III – quanto à natureza do serviço:
a) público;
b) privado.
Veja como a lei traz objetividade nos critérios. Por exemplo: um serviço pode ser de transporte de passageiros (objeto), operado de modo coletivo (característica), e ser de natureza pública ou privada. Usar esses parâmetros juntos permite classificar com precisão um transporte urbano, como o serviço de táxi, de ônibus municipal, ou o transporte de cargas por caminhão.
O parágrafo terceiro detalha o que a lei entende por infraestruturas de mobilidade urbana. Fica demonstrado que não é apenas a via asfaltada que conta — entram nesse conceito vias, logradouros, ciclovias, estacionamentos, terminais, estações, pontos de embarque e desembarque, sinalização, instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e também os equipamentos e instalações.
§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana:
I – vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;
II – estacionamentos;
III – terminais, estações e demais conexões;
IV – pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V – sinalização viária e de trânsito;
VI – equipamentos e instalações; e
VII – instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.
Note como a abrangência do termo “infraestrutura” no contexto da lei é bem maior do que se imagina à primeira vista. Isso costuma ser uma pegadinha em concursos: um erro de leitura pode levar o candidato a considerar apenas as vias como infraestrutura, esquecendo de terminais, ciclovias e sinais de trânsito.
Dominar esse leque de elementos é requisito básico para interpretar corretamente o funcionamento ou planejamento do sistema de mobilidade e, principalmente, para não cair em armadilhas de enunciados que troquem um termo por outro ou descaracterizem a abrangência da lei.
Questões: Finalidade da lei
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana busca promover a integração dos diferentes modos de transporte, visando a acessibilidade tanto para pessoas quanto para cargas, em consonância com o planejamento urbano.
- (Questão Inédita – Método SID) O objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana é criar regras específicas para o uso de transporte, sem se preocupar com outros aspectos do planejamento urbano.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana inclui diretrizes do Estatuto da Cidade, reforçando a importância da função social da cidade e da participação popular no planejamento de mobilidade.
- (Questão Inédita – Método SID) O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana compreende apenas veículos motorizados, como automóveis e ônibus, para garantir deslocamentos no território do Município.
- (Questão Inédita – Método SID) Na Política Nacional de Mobilidade Urbana, a gestão democrática é destacada como fundamental, enfatizando que os cidadãos devem participar ativamente no planejamento e avaliação das políticas de mobilidade.
- (Questão Inédita – Método SID) As infraestruturas de mobilidade urbana, segundo a Política Nacional, incluem apenas as vias asfaltadas e espaços destinados ao transporte coletivo.
Respostas: Finalidade da lei
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta, pois a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem exatamente como um de seus objetivos principais promover a integração entre os modos de transporte e garantir a acessibilidade, conforme estabelecido em sua definição legal.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A assertiva está errada, já que a lei destaca que a mobilidade urbana deve estar integrada a um planejamento que considera aspectos fundamentais do desenvolvimento urbano e a sustentabilidade, indo além de regras isoladas.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta, uma vez que a Política Nacional deve observar diretrizes do Estatuto da Cidade, incluindo a função social da cidade e a participação popular, conforme mencionado no parágrafo único que regulamenta a política.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é errada. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana inclui tanto os modos de transporte motorizados quanto os não motorizados, como bicicletas e veículos de tração animal, conforme regulamentado na lei.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A assertiva está correta. A gestão democrática é um dos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que deve permitir a participação e controle social dos cidadãos, conforme a essência da norma.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmativa está errada. As infraestruturas de mobilidade urbana abrangem uma gama maior, incluindo ciclovias, terminais, estações e sinalização, não se limitando apenas às vias asfaltadas.
Técnica SID: SCP
Integração com a política de desenvolvimento urbano
A Lei nº 12.587/2012 coloca a integração com a política de desenvolvimento urbano como um elemento central desde o seu primeiro artigo. Para compreender isso, o concurseiro deve observar não apenas o objetivo imediato da política de mobilidade, mas sua conexão direta com dispositivos constitucionais que tratam do planejamento das cidades e da organização das funções urbanas.
O legislador faz referência explícita à Constituição Federal, demonstrando que mobilidade urbana não é tema isolado: integra um arcabouço mais amplo de diretrizes constitucionais para o desenvolvimento ordenado das cidades. Essa articulação aparece já no artigo 1º e reforça que políticas de transporte, acessibilidade e circulação devem caminhar juntas com outros instrumentos de planejamento urbano – como plano diretor, uso do solo e acesso à moradia.
Art. 1º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.
Note no início do artigo como a mobilidade urbana é tratada como “instrumento da política de desenvolvimento urbano”. Isso significa que toda decisão sobre ônibus, metrô, ciclovias ou transporte de cargas deve servir também aos objetivos maiores do ordenamento e expansão das cidades, do acesso aos serviços urbanos e da inclusão dos diversos grupos sociais. Atenção ao termo “integração entre os diferentes modos de transporte”: a legislação exige que o transporte público, individual, motorizado ou não motorizado, funcione de modo articulado, e nunca de forma segregada.
O parágrafo único deste artigo remete a dispositivos do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), reforçando a necessidade de alinhamento entre as políticas de mobilidade e outros instrumentos urbanísticos fundamentais. Essa conexão normativa é um ponto-chave em provas, pois bancas costumam testar se o candidato está atento a referências cruzadas entre leis. Veja o texto literal:
Parágrafo único. A Política Nacional a que se refere o caput deve atender ao previsto no inciso VII do art. 2º e no § 2º do art. 40 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).
Ao exigir que a Política Nacional de Mobilidade Urbana “atenda ao previsto” nesses dispositivos do Estatuto da Cidade, a lei impõe que a promoção da mobilidade e da acessibilidade esteja sempre subordinada a princípios como função social da cidade, sustentabilidade ambiental e participação social no planejamento urbano. Trata-se de uma integração obrigatória e sistêmica, não apenas desejável.
Para não errar em questões objetivas, fique atento: a mobilidade urbana deve ser vista como parte integrante do processo de ordenamento urbano, nunca apenas como direito de ir e vir ou mero serviço de transporte. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, descrito logo a seguir, materializa essa integração no aspecto prático e organizacional.
Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
Repare como o artigo 2º vai além de simplesmente listar um objetivo genérico. Ele afirma expressamente que a política de mobilidade deve “contribuir para o acesso universal à cidade” e favorecer a “efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano”. Essas expressões mostram que o legislador pretende uma harmonia efetiva entre as políticas: não basta adotar soluções isoladas de transporte, elas têm que estar conectadas com o acesso a serviços, equipamentos públicos, moradia e oportunidades urbanas de modo equitativo.
O planejamento e a gestão democrática destacam o dever de participação social: todos os envolvidos na vida urbana devem ter voz no desenho das soluções de mobilidade. E a menção explícita ao acesso universal desloca o foco para a inclusão social e eliminação de barreiras urbanas.
O artigo 3º detalha que tipo de integração prática a lei espera. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é composto justamente pelo “conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município”. Veja a redação:
Art. 3º O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.
O termo “organizado e coordenado” reforça a exigência de integração funcional: ruas, avenidas, linhas de ônibus, ciclovias e estações devem atuar em conjunto, sob planejamento único, evitando sobreposição ou lacunas. É a integração da política de desenvolvimento urbano colocada em prática, pois toda solução de transporte passa a ser parte da engrenagem maior que ordena o espaço urbano e promove inclusão, eficiência e sustentabilidade.
Para memorizar: O tráfego de pessoas e mercadorias é elemento estrutural da cidade, porém só cumpre seu papel social quando articulado de modo inteligente com os demais componentes do desenvolvimento urbano. O texto legal não deixa margem de dúvida: integração é obrigação e fundamento para qualquer ação em mobilidade urbana.
Questões: Integração com a política de desenvolvimento urbano
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 estabelece que a Política Nacional de Mobilidade Urbana deve trabalhar de forma isolada, visando exclusivamente a melhoria dos transportes sem considerar outros aspectos do desenvolvimento urbano.
- (Questão Inédita – Método SID) A mobilidade urbana deve ser considerada apenas sob a perspectiva do direito de ir e vir das pessoas e não está relacionada a princípios como função social da cidade e sustentabilidade ambiental.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana, segundo a Lei nº 12.587/2012, deve promover o acesso universal à cidade e a inclusão social, colaborando com os princípios da política de desenvolvimento urbano.
- (Questão Inédita – Método SID) O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana deve ser organizado de forma a garantir a coordenação entre os diferentes modos de transporte, serviços e infraestruturas na cidade, conforme a Lei nº 12.587/2012.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana, de acordo com a Lei nº 12.587/2012, deve adotar soluções de transporte de maneira científica, sem considerar as condições sociais e urbanas da população.
- (Questão Inédita – Método SID) A integração da mobilidade urbana deve ser vista como tarefa opcional e não como uma obrigação fundamental para o desenvolvimento ordenado das cidades, segundo a legislação vigente.
Respostas: Integração com a política de desenvolvimento urbano
- Gabarito: Errado
Comentário: A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento da política de desenvolvimento urbano, o que implica que deve estar integrada a outros aspectos, como planejamento urbano e uso do solo. Portanto, a ideia de que deve trabalhar de forma isolada está equivocada.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A mobilidade urbana está intimamente relacionada a princípios como a função social da cidade e sustentabilidade ambiental, conforme enfatizado na Lei nº 12.587/2012. Ela não deve ser vista apenas como um direito de ir e vir, mas como parte do ordenamento urbano.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: O artigo 2º da Lei nº 12.587/2012 estabelece que a política de mobilidade deve contribuir para o acesso universal à cidade, favorecendo a inclusão social e a efetivação dos princípios da política de desenvolvimento urbano, confirmando a interligação entre esses temas.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: O artigo 3º da Lei nº 12.587/2012 define que o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana consiste em um conjunto organizado e coordenado que garante os deslocamentos de pessoas e cargas, ressaltando a necessidade de integração entre os diversos modos de transporte.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 enfatiza que a política de mobilidade urbana deve levar em conta a inclusão social e as condições urbanas, promovendo participação social e planejamento com base nas necessidades da população e no desenvolvimento urbano.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: Segundo a interpretação da Lei nº 12.587/2012, a integração da mobilidade urbana é uma obrigação fundamental, visto que ela deve agir em conjunto com outros instrumentos urbanísticos, sendo uma parte essencial do processo de ordenamento urbano.
Técnica SID: PJA
Composição e organização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana
O artigo 3º da Lei nº 12.587/2012 apresenta de forma detalhada como se compõe e como se organiza o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Para o aluno que estuda para concursos, conhecer as divisões exatas — modos de transporte, serviços e infraestruturas — é decisivo para evitar confusões ou misturas entre conceitos frequentemente cobrados em provas objetivas. A literalidade aqui não é apenas formalidade; ela define o que integra (e o que não integra) o sistema previsto em lei.
Veja primeiramente a definição central do artigo e em quais bases ele organiza o sistema:
Art. 3º O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.
Perceba que ao falar em “conjunto organizado e coordenado”, a lei destaca a integração — não é apenas uma lista solta de itens, mas um sistema que precisa funcionar de forma harmônica. A referência ao “território do Município” delimita o foco principal, afastando dúvidas sobre a abrangência do sistema a outros entes.
O próximo passo é identificar os modos de transporte urbano, classificados no § 1º. Fique atento, pois são apenas dois grandes grupos. Observe o texto legal:
§ 1º São modos de transporte urbano:
I – motorizados; e
II – não motorizados.
Na prática, “motorizados” referem-se àqueles que usam motor (como ônibus, metrôs, carros) e “não motorizados” são aqueles dependentes do esforço humano ou tração animal (como bicicletas e carros de boi). Essa divisão é recorrente em questões, especialmente em listas de alternativas em que se insere sutilmente um exemplo errado.
Em seguida, o § 2º detalha como os serviços de transporte urbano são classificados. A leitura atenta dos critérios (“quanto ao objeto”, “quanto à característica do serviço”, “quanto à natureza do serviço”) é fundamental. Vejamos:
§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados:
I – quanto ao objeto:
a) de passageiros;
b) de cargas;
II – quanto à característica do serviço:
a) coletivo;
b) individual;
III – quanto à natureza do serviço:
a) público;
b) privado.
Essas três formas de classificação podem ser cobradas individualmente ou em conjunto. O serviço pode ser, por exemplo, de passageiros (objeto), coletivo (característica), público (natureza). Muitas bancas exploram armadilhas ao trocar a ordem dos critérios ou confundir “característica do serviço” com “natureza do serviço”.
O próximo elemento do sistema são as infraestruturas de mobilidade urbana, especificadas de modo exaustivo no § 3º. O rol é extenso e cada item pode ser cobrado separadamente em provas. Repare no texto literal:
§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana:
I – vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;
II – estacionamentos;
III – terminais, estações e demais conexões;
IV – pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V – sinalização viária e de trânsito;
VI – equipamentos e instalações; e
VII – instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.
Vale destacar algumas possíveis armadilhas: por exemplo, “estacionamentos” e “sinalização viária” integram a infraestrutura, termo que o aluno pode esquecer ao memorizar apenas vias e terminais. Outro ponto importante é a presença de metroferrovias, hidrovias e ciclovias no mesmo inciso do rol do item I — ou seja, o conceito de via pública é ampliado pela lei.
Você notou como os dispositivos detalham cada elemento do sistema? O aluno que reconhece essas classificações, conforme o texto literal, ganha vantagem para interpretar corretamente dispositivos e evitar pegadinhas comuns em provas, como a troca de critérios de classificação de serviços ou inclusão de elementos não previstos na infraestrutura. Vale sempre reforçar a leitura direta da lei e revisar as listas e incisos, pois cada termo pode fazer diferença em uma questão.
Questões: Composição e organização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana
- (Questão Inédita – Método SID) O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é definido como um conjunto organizado e coordenado de modos de transporte, serviços e infraestruturas que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas, abrangendo o território de todos os municípios do Brasil.
- (Questão Inédita – Método SID) Os modos de transporte urbano, conforme estabelecido pela legislação, são classificados apenas em duas categorias: motorizados e não motorizados, sendo motorizados aqueles que utilizam motor em seu funcionamento.
- (Questão Inédita – Método SID) A classificação dos serviços de transporte urbano considera apenas a natureza do serviço, seja ele público ou privado, sem levar em conta outras formas de classificação.
- (Questão Inédita – Método SID) As infraestruturas de mobilidade urbana, conforme disposto na legislação, incluem apenas vias públicas e estacionamentos, excluindo outras estruturas de apoio ao sistema.
- (Questão Inédita – Método SID) O critério de classificação de serviços de transporte urbano abrange categorias como serviço de passageiros, coletivo e público, podendo ser adotados em combinações diversas dentro do sistema.
- (Questão Inédita – Método SID) A inclusão de ciclovias e hidrovias na definição de infraestrutura de mobilidade urbana é uma ampliação do conceito de via pública prevista na norma, que visa garantir um sistema de transporte diversificado.
Respostas: Composição e organização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana se limita ao território do Município, e não a todos os municípios do Brasil. Portanto, a questão é incorreta.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A classificação dos modos de transporte urbano realmente se divide em motorizados (que utilizam motor) e não motorizados (dependentes do esforço humano), conferindo ao enunciado a veracidade conforme a norma.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A norma estabelece que os serviços de transporte são classificados quanto ao objeto, à característica do serviço e à natureza do serviço, portanto, a afirmação é incorreta.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A legislação especifica uma ampla gama de infraestruturas que também abrange metroferrovias, terminais e sinalização viária, entre outros, portanto, a afirmativa é incorreta.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a legislação estabelece que os serviços podem ser classificados de acordo com o objeto, a característica e a natureza, o que permite múltiplas combinações.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é verdadeira, pois a norma realmente amplia o conceito de infraestrutura ao incluir diferentes tipos de vias, promovendo a diversidade no sistema de transporte urbano.
Técnica SID: PJA
Definições Legais: Mobilidade, Acessibilidade e Modos de Transporte (art. 4º)
Transporte urbano
O conceito de transporte urbano está no centro da Lei nº 12.587/2012 e serve de base para compreender toda a estrutura dos sistemas de mobilidade nas cidades. Saber reconhecer a definição legal exata é fundamental, pois provas de concurso frequentemente exploram pequenas variações de termos ou omissões de partes importantes.
Segundo a lei, transporte urbano não é um termo genérico: ele engloba tanto modos como serviços, nos âmbitos público e privado, sempre ligados ao deslocamento de pessoas e cargas nas cidades abrangidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
Repare na expressão-chave “conjunto dos modos e serviços”. Isso significa que transporte urbano envolve múltiplas formas de locomoção (exemplo: ônibus, metrôs, bicicletas, carros, aplicativos), podendo ser provido tanto por agentes públicos quanto privados. Além disso, não se restringe ao passageiro: inclui também o transporte de cargas, animais e mercadorias – detalhe que costuma ser motivo de confusão em provas.
Outro ponto que merece atenção: a definição se refere especificamente às “cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana”. Ou seja, está vinculada a territórios que estejam formalmente sob o escopo dessa política, reforçando a importância do entendimento do contexto normativo.
- Transporte público urbano: Modalidades abertas ao público, com regras, tarifas e condições fixadas pelo poder público.
- Transporte privado urbano: Abrange serviços realizados sem obrigação ampla de atendimento ao público, como viagens sob demanda, serviços internos de empresas ou fretamentos específicos.
Imagine que uma banca de concurso troque a expressão “conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado” por “serviços públicos de transporte de passageiros”. Percebe o erro? O conceito legal é muito mais amplo e abrange serviços privados e o transporte de cargas. Essa atenção à literalidade impede que você caia em pegadinhas de redação.
Outro ponto recorrente em provas é tentar limitar o transporte urbano apenas ao deslocamento de pessoas, suprimindo “cargas”. Lembre-se: a lei inclui ambos e fugir desse detalhe pode comprometer o acerto da questão.
Pense no transporte urbano, então, como um “guarda-chuva” que abriga diferentes tipos de serviços e meios de locomoção, públicos ou privados, voltados tanto para o deslocamento de pessoas quanto para o transporte de cargas. Essa compreensão global vai te ajudar a interpretar corretamente enunciados e a responder mesmo questões complexas com confiança.
Questões: Transporte urbano
- (Questão Inédita – Método SID) O transporte urbano, conforme definido na legislação pertinente, refere-se apenas ao deslocamento de pessoas em veículos coletivos públicos, desconsiderando o transporte de cargas e mercadorias.
- (Questão Inédita – Método SID) O transporte urbano é um termo que abarca somente os serviços públicos de transporte de passageiros, segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) De acordo com a Lei nº 12.587/2012, o transporte urbano é considerado como um conjunto de modos e serviços utilizados exclusivamente para o deslocamento de pessoas nas cidades.
- (Questão Inédita – Método SID) A inclusão de agentes tanto públicos quanto privados na prestação de serviços de transporte urbano é um aspecto essencial da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) O conceito de transporte urbano inclui somente os modos fixos de transporte, como ônibus e metrôs, enquanto os serviços de transporte privado são considerados à parte.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana se aplica apenas a cidades que possuem sistema de transporte coletivo estruturado, desconsiderando outros contextos de mobilidade urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) O transporte urbano em uma cidade pode ser constituído por uma combinação de modos e serviços que atendam tanto ao transporte de passageiros quanto de cargas e mercadorias.
Respostas: Transporte urbano
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição legal de transporte urbano não se limita ao deslocamento de pessoas, mas inclui, também, o transporte de cargas e mercadorias, sendo fundamental reconhecer essa abrangência para uma interpretação correta da norma.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição de transporte urbano envolve um conjunto que inclui serviços tanto públicos quanto privados, e abrange o deslocamento de pessoas e de cargas. Essa compreensão é crucial para evitar erros em provas de concurso.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição inclui tanto o deslocamento de pessoas quanto de cargas, e não se limita a um ou outro. É fundamental entender que o transporte urbano contempla diversas formas de locomoção e transporte.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A definição abrange a atuação de diferentes agentes na prestação de serviços de transporte, ressaltando que tanto o transporte público quanto o privado são componentes fundamentais do universo do transporte urbano.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição de transporte urbano abrange tanto modos fixos quanto serviços de transporte privado, incorporando todos os meios de locomoção relevantes para o deslocamento urbano, conforme descrito na legislação.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A política se aplica a todas as cidades integrantes da respectiva política, sem limitar-se apenas àquelas com sistemas de transporte coletivo estruturado, reconhecendo a diversidade de contextos na mobilidade urbana.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: Esta afirmação condiz com a definição legal de transporte urbano, que reconhece a interdependência entre os diversos modos e serviços necessários para o deslocamento eficiente nas cidades.
Técnica SID: PJA
Mobilidade urbana
Quando falamos em mobilidade urbana, referimo-nos a um conceito fundamental para o entendimento de toda a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A leitura precisa da definição legal é um passo essencial para responder questões de concurso, já que pequenas modificações nessa definição podem invalidar assertivas. Ao estudar, preste atenção especial à forma como a norma delimita o significado de mobilidade urbana, sem incluir elementos estranhos ao texto.
Veja, a seguir, a literalidade trazida pelo art. 4º, inciso II, da Lei nº 12.587/2012, que precisa ser compreendida com rigor. Incluir termos não previstos na lei, ou confundir mobilidade urbana com outros conceitos, como acessibilidade ou transporte, é um erro comum entre candidatos e motivo frequente de pegadinhas em provas.
Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
II – mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;
Note como a definição é enxuta e objetiva: mobilidade urbana trata, exclusivamente, da condição em que os deslocamentos ocorrem no espaço urbano, seja para pessoas, seja para cargas. Não há, aqui, qualquer menção à forma desses deslocamentos, se motorizados, não motorizados, coletivos, individuais ou adaptados, nem confusão com acessibilidade — estes são conceitos diferentes no texto legal.
Pense, por exemplo, em uma grande cidade. Mobilidade urbana não é só o trânsito de carros ou ônibus, mas qualquer situação em que pessoas ou mercadorias se movem dentro do perímetro urbano. A palavra-chave do inciso II é “condição”. Ou seja, a mobilidade urbana representa o contexto, as possibilidades e as limitações existentes para esses deslocamentos.
O detalhamento dado pela lei evita interpretações amplificadas ou genéricas. Não se confunda: mobilidade não é sinônimo de facilidade, qualidade, acessibilidade ou de ter múltiplos transportes disponíveis. É, antes de tudo, a existência de movimentos — e as condições sob as quais eles acontecem.
- Cuidado essencial: em provas, a troca do termo “condição” por “meio”, “facilidade” ou qualquer outro pode comprometer a precisão da resposta. O texto normativo não admite tal substituição.
- Exemplo para fixar: imagine o deslocamento de um caminhão de carga atravessando a cidade, ou um idoso caminhando até a farmácia. Ambas as situações são exemplos de mobilidade urbana, pois refletem a “condição em que se realizam os deslocamentos no espaço urbano”.
Para não errar na prova, evite confundir mobilidade urbana com o direito ao transporte ou com o conceito de acessibilidade, que, segundo a lei, também possui definição própria e será tratada em outro momento. Aqui, o foco está no cenário em que os deslocamentos ocorrem, sem adjetivos quanto à sua qualidade ou finalidade.
Guarde bem: a Lei nº 12.587/2012 prestigia o termo “condição” para definir mobilidade urbana. Essa sutileza é um diferencial na leitura atenta do texto legal e pode ser o detalhe que evita o erro diante de uma alternativa capciosa na prova.
Questões: Mobilidade urbana
- (Questão Inédita – Método SID) A mobilidade urbana refere-se exclusivamente à condição em que ocorrem os deslocamentos das pessoas e cargas no espaço urbano, sem considerar a qualidade ou a forma desses deslocamentos.
- (Questão Inédita – Método SID) A mobilidade urbana é equivocadamente confundida com o conceito de acessibilidade, pois ambos são definidos na mesma norma legal.
- (Questão Inédita – Método SID) Alterar o termo ‘condição’ por ‘facilidade’ ao definir mobilidade urbana não comprometeria a precisão do que é considerado mobilidade, uma vez que a ideia central permanece a mesma.
- (Questão Inédita – Método SID) Mobilidade urbana abrange todas as formas de deslocamento, incluindo motorizados e não motorizados, mas sem considerar o contexto em que esses deslocamentos ocorrem.
- (Questão Inédita – Método SID) A análise da mobilidade urbana implica em considerar as condições que tornam possíveis ou limitantes os deslocamentos, independentemente da natureza das cargas ou das pessoas envolvidas.
- (Questão Inédita – Método SID) A mobilidade urbana é um conceito que se relaciona estritamente com a facilidade de deslocamento dentro do espaço urbano, sem considerar as restrições que podem estar presentes.
Respostas: Mobilidade urbana
- Gabarito: Certo
Comentário: A definição legal de mobilidade urbana, conforme estabelecido na legislação, realmente enfatiza a condição dos deslocamentos sem atribuir a esta interpretação nuances de qualidade ou meio. A precisão dessa definição é crucial em contextos legais.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: Mobilidade urbana e acessibilidade possuem definições distintas na lei. A questão ressalta um erro comum entre candidatos, evidenciando a necessidade de se compreender claramente esses conceitos para evitar confusões.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A substituição de ‘condição’ por ‘facilidade’ modifica substancialmente o entendimento do conceito de mobilidade urbana. A norma enfatiza a condição como a base fundamental da definição, e interpretações errôneas podem levar a respostas incorretas em concursos.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição de mobilidade urbana, conforme a norma, não é abrangente no sentido de inclusão de todos os modos sem considerar o contexto. A norma exige um entendimento preciso do termo ‘condição’ como essencial para compreender a mobilidade urbana.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: O enfoque na condição dos deslocamentos, que permite entender tanto os desafios como as facilidades da mobilidade urbana, é crucial. Essa interpretação está alinhada à definição legal, que se concentra na natureza do deslocamento em si.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A definição de mobilidade urbana não está relacionada apenas à facilidade de deslocamento, pois a norma também considera as limitações que podem ocorrer nesse contexto. Reconhecer esses aspectos é fundamental para uma correcta interpretação do conceito.
Técnica SID: SCP
Acessibilidade
O conceito de acessibilidade dentro da Lei nº 12.587/2012 faz parte das definições fundamentais para compreender a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Entender a acessibilidade é crucial para evitar interpretações erradas em questões de concurso, especialmente porque sua definição está diretamente ligada à autonomia e à igualdade de todos no uso dos sistemas de transporte.
Note que a acessibilidade não se limita ao acesso físico. Ela envolve condições que assegurem a todas as pessoas — com ou sem deficiência, com qualquer limitação de mobilidade — autonomia em seus deslocamentos. O termo “facilidade disponibilizada às pessoas” traz o foco para o papel do poder público em garantir meios adequados de circulação. Lembre-se de que a autonomia é um elemento-chave aqui: não basta permitir o deslocamento, é preciso garantir a realização desejada, pelos próprios meios da pessoa, respeitando a legislação vigente.
Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
III – acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;
A leitura atenta do texto revela a preocupação em garantir que todos — independente de condição física, idade ou qualquer limitação — possam se deslocar com independência. O termo “facilidade disponibilizada às pessoas” destaca a responsabilidade do sistema de mobilidade em remover barreiras que limitem ou impeçam o acesso.
Sublinhe a expressão “possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados”. Isso significa que qualquer pessoa, querendo ir de um ponto A a um ponto B, tenha condições de fazê-lo sem depender de ajuda de terceiros — respeitando, é claro, todas as normas existentes. Você percebe como a palavra autonomia é central para o conceito legal? Não basta o transporte existir; ele deve garantir o deslocamento livre a todos.
Outro detalhe relevante é o fechamento da definição: “respeitando-se a legislação em vigor”. Essa expressão serve como reforço para lembrar que a acessibilidade não depende apenas da vontade do agente público, mas de um conjunto de requisitos legais já previstos em outras normas (como acessibilidade arquitetônica, adaptação de veículos, sinalização tátil, entre outros).
Questões de concurso frequentemente exploram diferenças sutis — por exemplo, alterando o termo “autonomia” para “dependência”, ou esquecendo a menção à legislação. Tais trocas desconstroem o sentido original da lei. Atenção: a definição só está completa se mencionar autonomia e respeito à legislação em vigor. Qualquer omissão pode tornar uma alternativa incorreta.
Exemplo prático: Imagine que uma cidade instala rampas em todas as calçadas, mas não sinaliza os itinerários para deficientes visuais. Apesar do esforço, não há “facilidade disponibilizada” nem “autonomia” para todos. Portanto, acessibilidade exige mais que estruturas físicas: requer adaptações universais, meios de informação e integração aos sistemas já existentes — sempre em conformidade com a lei.
Em situações de prova, sempre recorra à redação literal da lei: acessibilidade = facilidade + autonomia nos deslocamentos + respeito à legislação vigente. Não aceite versões reduzidas ou genéricas desse conceito.
Questões: Acessibilidade
- (Questão Inédita – Método SID) A acessibilidade, conforme definida na Política Nacional de Mobilidade Urbana, considera essencial a autonomia das pessoas em seus deslocamentos, além de garantir que todos, independentemente de suas condições, possam utilizar os sistemas de transporte.
- (Questão Inédita – Método SID) A acessibilidade se limita ao acesso físico às infraestruturas de transporte, sem considerar a autonomia ou a legislação vigente relacionada ao deslocamento das pessoas.
- (Questão Inédita – Método SID) A expressão ‘facilidade disponibilizada às pessoas’ na definição de acessibilidade implica que o poder público tem a responsabilidade de garantir condições adequadas de circulação para todos.
- (Questão Inédita – Método SID) A acessibilidade não exige a adaptação de veículos e a sinalização tátil, pois a lei foca apenas na estrutura física das calçadas e rampas.
- (Questão Inédita – Método SID) A definição de acessibilidade dentro da mobilidade urbana ressalta que, para um deslocamento ser considerado autônomo, não é necessário cumprir as normas vigentes estabelecidas por outras legislações.
- (Questão Inédita – Método SID) Garantir que todas as pessoas possuam autonomia em seus deslocamentos desejados é um aspecto central da acessibilidade na Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Respostas: Acessibilidade
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmativa é correta, pois a acessibilidade abrange a autonomia das pessoas em seus deslocamentos, enfatizando a necessidade de remover barreiras que limitem ou impeçam o uso dos sistemas de transporte por todos.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmativa é incorreta, uma vez que a acessibilidade envolve não apenas o acesso físico, mas também a autonomia das pessoas e o respeito à legislação vigente para assegurar condições adequadas de mobilidade.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmativa está correta, pois a definição enfatiza o papel do poder público em prover as condições necessárias para que todos possam se deslocar com autonomia.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmativa é incorreta, pois a acessibilidade abrange uma série de adaptações, incluindo veículos e sinalizações, que são essenciais para garantir a autonomia de todos os usuários nos sistemas de transporte.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmativa é falsa, pois a definição destaca que a acessibilidade deve respeitar a legislação em vigor e essa relação é essencial para garantir um deslocamento autônomo e adequado.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmativa está correta, destacando que a autonomia é um elemento fundamental da acessibilidade, que deve ser promovida em conformidade com as normativas vigentes.
Técnica SID: PJA
Modos de transporte motorizado e não motorizado
Compreender a diferença entre modos de transporte motorizado e não motorizado é essencial para interpretar corretamente a Lei nº 12.587/2012. A legislação utiliza termos muito específicos para definir cada modalidade, deixando claro quando se está tratando de veículos automotores e quando envolve outros meios de locomoção. Essa distinção é frequentemente cobrada em provas, onde escolhas de palavras podem induzir ao erro se a leitura não for atenta.
O artigo 4º da Lei traz uma seção dedicada inteiramente às definições técnicas dos termos usados ao longo do texto. Entre elas, estão os conceitos de “modos de transporte motorizado” e “modos de transporte não motorizado”, diferenciando com precisão as formas como pessoas e cargas se deslocam no espaço urbano.
Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
IV – modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores;
V – modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal;
Observe: quando a lei fala em “modos de transporte motorizado”, está se referindo exclusivamente às modalidades que utilizam veículos automotores, como carros, ônibus, motos, caminhões, metrô e trens elétricos. O termo “veículo automotor” carrega um sentido técnico preciso, englobando qualquer meio de transporte autopropelido, independentemente da fonte de energia utilizada — gasolina, diesel, eletricidade ou gás.
Em contrapartida, os “modos de transporte não motorizado” abrangem todas as modalidades que dependem do esforço humano ou da tração animal. Ao ler “esforço humano”, pense imediatamente em bicicletas, patinetes, cadeiras de rodas manuais e locomoção a pé. A expressão “tração animal” abrange carroças, charretes e até pequenos veículos puxados por animais em áreas rurais ou cidades do interior.
Essa divisão reforça um ponto: a lei separa meios de transporte movidos por motores daqueles que dependem de energia muscular humana ou animal. Um detalhe importante: a simples mudança das palavras pode alterar completamente uma questão de prova. Por exemplo, se uma assertiva disser que “todos os modos de transporte urbano são motorizados”, a resposta estará errada, pois a legislação deixa claro que existem também alternativas não motorizadas.
IV – modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores;
V – modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal;
Fique atento também ao fato de que o artigo 4º utiliza o plural “modalidades”, indicando que cada categoria pode englobar diferentes tipos de transporte. Dessa forma, dentro do grupo motorizado, cabem tanto automóveis quanto motocicletas e metrôs, e no não motorizado, tanto bicicletas quanto veículos de tração animal.
Imagine o seguinte cenário: em uma cidade, há ciclovias e corredores de ônibus. A ciclovia foi pensada para modos não motorizados (bicicletas e patinetes manuais), enquanto o corredor de ônibus destina-se a uma modalidade de transporte motorizado. Saber identificar corretamente onde cada um se encaixa é fundamental para quem quer acertar questões sobre planejamento urbano ou políticas de mobilidade.
Outro ponto de atenção: em muitos editais, caem perguntas sobre incentivos a modos de transporte não motorizado, como forma de promover sustentabilidade e desafogar o trânsito. A legislação faz essa distinção justamente para permitir políticas diferenciadas, respeitando as características e necessidades de cada meio de transporte.
Todo cuidado deve ser redobrado ao ler expressões como “modos alternativos”, “meios sustentáveis” e “transporte coletivo”. Muitas vezes, o termo correto cobrado na prova será o mesmo da legislação (“modos de transporte motorizado” ou “não motorizado”). Por isso, memorize a literalidade, pois trocas sutis de palavras podem transformar uma afirmação verdadeira em falsa.
Perceba ainda que os “modos não motorizados” reúnem não só o deslocamento por esforço humano direto, como o pedestre, mas também bicicletas — e mesmo atividades comerciais que envolvam carroças. São formas valorizadas na política de mobilidade, tendo em vista sua sustentabilidade, baixo custo energético e pouca emissão de poluentes.
Em resumo, saber distinguir o que são modos de transporte motorizado e não motorizado, conforme a lei, é um requisito básico e indispensável para a resolução de questões objetivas, principalmente aquelas elaboradas a partir da técnica de Substituição Crítica de Palavras. Trocar “modos motorizados” por “veículos em geral”, ou “não motorizado” por “modalidades alternativas”, leva erro certo em questões de banca rigorosa. Fique atento à literalidade do texto e ao significado técnico de cada expressão. Isso fará toda a diferença no seu desempenho.
Questões: Modos de transporte motorizado e não motorizado
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 define que os modos de transporte motorizado são aqueles que utilizam quaisquer veículos que operam de maneira autônoma, independente da fonte de energia utilizada.
- (Questão Inédita – Método SID) Segundo a Lei nº 12.587/2012, os modos de transporte não motorizado incluem apenas aqueles que utilizam bicicletas e cadeiras de rodas manuais.
- (Questão Inédita – Método SID) A expressão ‘veículos automotores’ mencionada na Lei nº 12.587/2012 refere-se a quaisquer meios de transporte que utilizam motores, incluindo opções como carros, ônibus e também metrôs elétricos.
- (Questão Inédita – Método SID) A afirmação de que todos os meios de transporte urbano devem ser necessariamente motorizados é uma interpretação correta da Lei nº 12.587/2012.
- (Questão Inédita – Método SID) A política de mobilidade estabelecida pela Lei nº 12.587/2012 favorece os modos de transporte motorizado em detrimento dos não motorizados, visando a redução do tráfego urbano.
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 menciona que a categorização dos modos de transporte se dá principalmente pela motorização, sem considerar o contexto de esforço humano ou tração animal.
Respostas: Modos de transporte motorizado e não motorizado
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a definição de modos de transporte motorizado abrange veículos automotores que operam de forma autônoma, incluindo aqueles que utilizam diferentes fontes de energia, como elétrica ou combustível. Essa compreensão é essencial para a interpretação adequada da legislação e suas aplicações práticas.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A proposição é falsa, pois os modos de transporte não motorizado abrangem não só bicicletas e cadeiras de rodas manuais, mas também deslocamentos realizados a pé e veículos de tração animal, como carroças e charretes. Essa diversidade é crucial para o planejamento urbano e a promoção de alternativas sustentáveis.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois ‘veículos automotores’ abrange uma variedade de meios de transporte que utilizam motores, independentemente da fonte de energia, que pode ser elétrica, a gasolina, entre outras. O reconhecimento dessas definições é fundamental para a interpretação eficaz da norma.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é falsa, uma vez que a Lei expressamente reconhece a existência de modos de transporte não motorizado, como bicicletas e locomoção a pé. Essa distinção reforça a importância do termo ‘urbano’ e a necessidade de considerar também alternativas não motorizadas em políticas de mobilidade.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A interpretação apresentada é incorreta, pois a Lei busca promover um equilíbrio entre os modos de transporte motorizado e não motorizado, enfatizando a importância das alternativas não motorizadas para sustentabilidade e mobilidade urbana. Essa abordagem visa também reduzir a dependência de veículos motorizados.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A proposta é falsa, pois a lei estabelece claramente duas categorias de modos de transporte; além dos motorizados, a legislação inclui também modalidades que dependem de esforço humano ou tração animal, demonstrando a necessidade de reconhecimento de ambos os grupos na formulação de políticas de mobilidade.
Técnica SID: PJA
Classificações de serviços de transporte
Compreender as classificações dos serviços de transporte urbano é fundamental para interpretar corretamente questões objetivas e evitar confusões entre os diferentes tipos de serviços tratados pela Lei nº 12.587/2012. Essa classificação está detalhadamente prevista no art. 3º, §2º, e determina como os serviços de transporte podem ser organizados segundo diferentes critérios: objeto, característica e natureza do serviço.
Cada critério de classificação reflete uma lógica distinta. O objeto separa passageiros de cargas. Já a característica define se o serviço é coletivo ou individual. E a natureza diferencia o público do privado. Essas divisões são constantes em provas, e palavras como “quanto ao objeto”, “quanto à característica” ou “quanto à natureza” são usadas para delimitar exatamente o tipo de serviço. Atenção especial a esses termos impede pegadinhas que trocam ou omitem uma categoria.
§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados:
I – quanto ao objeto:
a) de passageiros;
b) de cargas;II – quanto à característica do serviço:
a) coletivo;
b) individual;III – quanto à natureza do serviço:
a) público;
b) privado.
Veja que a legislação traz três blocos principais de classificação. O primeiro critério, quanto ao objeto, fala diretamente do que está sendo transportado: pessoas ou cargas. Essa divisão é autoexplicativa, mas costuma ser explorada em questões que confundem “carga” com “objeto do serviço”.
O segundo critério é quanto à característica do serviço. Aqui, caem as clássicas distinções entre transporte coletivo (várias pessoas transportadas simultaneamente, como ônibus urbanos) e transporte individual (atendimento personalizado, como táxis). Palavras como “coletivo” e “individual” aparecem facilmente trocadas em questões para tentar confundir o candidato.
Por último, o critério quanto à natureza do serviço distingue o transporte público — quando o serviço é regulamentado ou prestado pelo poder público ou em regime de concessão/permissão — do transporte privado, aquele providenciado por entes privados, normalmente para atender a demandas específicas fora do âmbito coletivo e aberto ao público. Importante: mesmo o serviço privado ainda pode ser disciplinado pelo poder público, o que faz diferença em outros artigos da lei.
A identificação exata desses três critérios e seus subitens é ponto frequente de cobrança pelas bancas. Perceba: uma simples troca entre “quanto ao objeto” e “quanto à natureza”, ou entre “coletivo” e “público”, pode inverter totalmente o sentido da questão. Nessas classificações, cada termo tem o seu papel técnico e não admite flexibilização.
Para memorizar e não se perder, pense em um exemplo prático: imagine um serviço de ônibus (público coletivo de passageiros), um táxi (público individual de passageiros), um transporte de mercadorias por caminhão de uma empresa particular (privado coletivo de cargas), e um serviço de aplicativo que traz uma encomenda personalizada apenas para você (privado individual de cargas). Essas combinações mostram como os três eixos se cruzam, e cada resposta de prova terá de estar em consonância com essas divisões da lei.
Fica claro que dominar essa estrutura de classificação permite ao candidato detectar substituições críticas de palavras (SCP) nas provas e reconhecer perfeitamente as definições técnicas (TRC). Se uma banca apresentar, por exemplo, que “transporte público de cargas” é prestado obrigatoriamente de forma coletiva, você já sabe que a característica do serviço e a natureza do serviço são critérios distintos, que não necessariamente se sobrepõem.
Sempre faça a leitura atenta do texto legal e, em caso de dúvida, retome os exatos termos da norma antes de marcar sua opção. As bancas adoram inverter ou misturar os critérios para criar pegadinhas. Agora, com o quadro legal claro, qualquer troca ou omissão rápida será facilmente identificada por você.
Questões: Classificações de serviços de transporte
- (Questão Inédita – Método SID) Os serviços de transporte urbano podem ser classificados de acordo com três critérios principais: objeto, característica e natureza do serviço.
- (Questão Inédita – Método SID) O critério de classificação quanto ao objeto dos serviços de transporte urbano diferencia exclusivamente os serviços de transporte individual daqueles de transporte coletivo.
- (Questão Inédita – Método SID) O transporte privado é aquele geralmente prestado por entidades públicas ou em regime de concessão no âmbito do transporte urbano.
- (Questão Inédita – Método SID) O serviço de transporte coletivo é aquele que se realiza mediante o transporte simultâneo de várias pessoas, como ocorre com os ônibus urbanos.
- (Questão Inédita – Método SID) O critério de natureza do serviço classifica os serviços de transporte apenas entre aqueles de caráter individual e os coletivos.
- (Questão Inédita – Método SID) O exemplo de um serviço de aplicativo que entrega uma encomenda personalizada é considerado um transporte privado individual de cargas.
Respostas: Classificações de serviços de transporte
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a Lei nº 12.587/2012 realmente classifica os serviços de transporte urbano segundo essas três categorias, permitindo uma melhor organização e entendimento dos serviços disponíveis.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A classificação quanto ao objeto separa os serviços de transporte de passageiros daqueles de cargas, e não faz distinção entre serviços de transporte individual e coletivo.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: O transporte privado é caracterizado por ser executado por entes privados, enquanto o transporte público é o que é regulamentado ou prestado pelo poder público ou em concessão.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: Está correto, uma das características do transporte coletivo é que ele permite o transporte de um grande número de passageiros ao mesmo tempo, como é o caso do transporte público coletivo em ônibus.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A natureza do serviço classifica os serviços entre públicos e privados, enquanto a característica diferencia entre serviços coletivos e individuais. Esta afirmação confunde os critérios de classificação.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, já que o serviço, por ser prestado por uma entidade privada para uma demanda específica de uma pessoa, se caracteriza como um transporte privado individual de cargas.
Técnica SID: PJA
Princípios, Diretrizes e Objetivos (arts. 5º a 7º)
Princípios fundamentadores da política
Os princípios são a base estrutural da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Cada princípio é uma espécie de “bússola jurídica”, orientando toda a tomada de decisão e a execução de ações pelo poder público, empresas e demais atores envolvidos no tema. Não se trata apenas de recomendações genéricas, mas de parâmetros vinculantes que guiam a elaboração de políticas, projetos e a rotina dos serviços de mobilidade urbana.
Estes princípios estabelecem valores fundamentais, como acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável e equidade no acesso ao transporte público. Para quem está se preparando para concursos, dominar a literalidade de cada um dos incisos é essencial, pois bancas cobram justamente as pequenas nuances entre eles. A diferença entre eficiência, eficácia e efetividade, por exemplo, pode ser decisiva numa questão objetiva. Observe atentamente cada termo e a abrangência de cada princípio.
Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios:
I – acessibilidade universal;
II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
V – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI – segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;
VIII – equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e
IX – eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.
Repare como a lei traz nove princípios expressos. O primeiro é a “acessibilidade universal”, enfatizando que todas as pessoas — independentemente de limitações físicas, sociais ou econômicas — devem ter condições de acesso garantidas nos sistemas de mobilidade. Isso se conecta diretamente à ideia de inclusão.
O segundo princípio — desenvolvimento sustentável das cidades — exige que qualquer política de mobilidade leve em conta não só o aspecto econômico, mas também o social e o ambiental. Se em uma prova aparecesse “desenvolvimento sustentável apenas no aspecto socioeconômico”, você já saberia distinguir o erro, certo? A lei é clara: exige as três dimensões.
No inciso III, a palavra “equidade” reforça que o acesso ao transporte público coletivo deve ser justo. Equidade pressupõe tratamento diferenciado para quem mais precisa, ajustando o sistema para garantir acesso efetivo também aos grupos mais vulneráveis.
Já o inciso IV detalha a expectativa de serviços de transporte “eficientes, eficazes e efetivos”. Aqui vale atenção: eficiência diz respeito ao uso racional dos recursos; eficácia, ao atingimento dos objetivos; efetividade, ao impacto real na vida das pessoas. Questões de concurso costumam trocar esses termos para confundir o candidato: fique atento!
Gestão democrática (inciso V) significa que o planejamento e a avaliação da Política de Mobilidade precisam ser feitos com controle social, ou seja, com participação da sociedade. Não basta o poder público decidir sozinho.
O princípio da segurança nos deslocamentos (inciso VI) obriga o sistema a proteger a integridade das pessoas — tanto física como em relação a riscos de acidentes, assaltos e outros perigos do cotidiano urbano.
A justa distribuição de benefícios e ônus (inciso VII) procura equilibrar vantagens e responsabilidades entre quem utiliza diferentes serviços e modos de transporte. Imagine, por exemplo, a divisão de custos de uma obra viária: ela não pode onerar apenas um grupo. Questões podem inverter esse sentido, então atenção no enunciado.
No inciso VIII retorna o termo “equidade”, só que agora voltado ao uso do espaço público, das vias e logradouros. Significa que todos devem ter igual oportunidade de uso desses espaços, evitando privilégios indevidos.
O último princípio (inciso IX) reforça o trinômio eficiência-eficácia-efetividade, agora aplicado à circulação urbana. É um chamado para que os sistemas de deslocamento sejam integrados, funcionais e tragam benefícios reais para a sociedade.
- Dica prática: muita confusão nas provas se dá pela similaridade entre os termos. Leu sobre eficiência? Cheque se a banca trocou para “eficácia” ou “efetividade”. Leu “acessibilidade universal”? Desconfie se o enunciado restringiu a apenas um grupo. Força nos detalhes — eles são o segredo para acertar as questões de alto nível.
-
Resumo do que você precisa saber:
- Todas as nove expressões são princípios obrigatórios, não há caráter opcional;
- Segurança, acessibilidade universal, equidade no acesso e distribuição justa dos benefícios e ônus são temas frequentes em bancas;
- “Gestão democrática” exige participação social, e não apenas decisões estatais;
- O tripé eficiência-eficácia-efetividade se repete, tanto nos serviços como na circulação urbana;
- Desenvolvimento sustentável envolve as dimensões socioeconômicas e ambientais obrigatoriamente.
Dominar esses princípios é fundamental para responder questões de reconhecimento literal (TRC), identificar trocas de termos (SCP) e avaliar paráfrases (PJA). Volte à leitura do artigo sempre que ficar em dúvida sobre expressões-chave e tenha atenção redobrada às pequenas diferenças entre eles.
Questões: Princípios fundamentadores da política
- (Questão Inédita – Método SID) Os princípios que fundamentam a Política Nacional de Mobilidade Urbana são considerados parâmetros vinculantes que orientam a execução de ações por parte do poder público e empresas. Assim, a implementação destes princípios deve ser considerada opcional.
- (Questão Inédita – Método SID) A equidade no acesso ao transporte público coletivo implica que todos os cidadãos devem receber o mesmo tipo de tratamento, independentemente de suas necessidades específicas.
- (Questão Inédita – Método SID) O princípio do desenvolvimento sustentável das cidades, conforme a Política Nacional de Mobilidade Urbana, considera unicamente as dimensões econômicas para a formulação de políticas de mobilidade.
- (Questão Inédita – Método SID) O princípio da gestão democrática na Política Nacional de Mobilidade Urbana requer que o planejamento e a avaliação sejam realizados sem qualquer participação da sociedade civil.
- (Questão Inédita – Método SID) O princípio da segurança nos deslocamentos não considera os riscos de acidentes e assaltos, uma vez que o foco é somente na eficiência do transporte.
- (Questão Inédita – Método SID) No contexto da Política Nacional de Mobilidade Urbana, eficiência, eficácia e efetividade referem-se aos mesmos aspectos qualitativos da prestação de serviços de transporte, e são, portanto, intercambiáveis.
Respostas: Princípios fundamentadores da política
- Gabarito: Errado
Comentário: Os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana são normas obrigatórias que guiam a elaboração de políticas e projetos. Portanto, sua implementação não é opcional, mas sim uma imposição legal.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: O conceito de equidade envolve tratamento diferenciado para aqueles que mais necessitam, e não igualdade de tratamento para todos. É fundamental garantir que grupos vulneráveis tenham acesso efetivo, o que justifica intervenções diferenciadas.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: O princípio do desenvolvimento sustentável deve envolver as dimensões socioeconômicas e ambientais, não se limitando apenas ao aspecto econômico. É essencial considerar a totalidade das dimensões para a construção de políticas efetivas.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A gestão democrática exige a participação da sociedade na formulação e avaliação das políticas, o que contraria a ideia de decisões unilaterais por parte do poder público. Esta participação é fundamental para a efetividade da política de mobilidade.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: O princípio da segurança nos deslocamentos estabelece a proteção da integridade das pessoas, incluindo medidas contra riscos de acidentes e violência. Portanto, a segurança é um aspecto intrínseco e essencial ao planejamento urbano.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: Embora relacionados, eficiência (uso racional de recursos), eficácia (atingimento de objetivos) e efetividade (impacto na vida das pessoas) têm definições distintas e não são intercambiáveis. É crucial que candidatos compreendam essa distinção para interpretar corretamente os princípios da mobilidade.
Técnica SID: PJA
Diretrizes para gestão integrada e sustentável
Quando falamos em política nacional de mobilidade urbana, as diretrizes orientam como o poder público deve planejar, integrar e executar ações para garantir acessibilidade, sustentabilidade e eficiência nos meios de transporte. Compreender cada diretriz é essencial para interpretar corretamente a lei, identificar pegadinhas de concurso e responder questões mais detalhadas sobre gestão urbana.
O texto legal detalha as diretrizes que devem nortear a atuação dos gestores públicos, desde a integração com outras políticas urbanas até a adoção de energias limpas e o incentivo à cooperação entre cidades. Observe a quantidade de detalhes: cada inciso pode ser cobrado de forma isolada ou comparativa nas provas. Agora, veja diretamente na lei:
Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:
I – integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
II – prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
III – integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
IV – mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
V – incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;
VI – priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e
VII – integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.
VIII – garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do serviço.
Repare como a lei ressalta, logo no primeiro inciso, a integração com a política de desenvolvimento urbano e demais setores como habitação e saneamento. É fundamental entender que a mobilidade urbana não pode ser planejada de forma isolada: ela deve estar conectada a outras políticas do município, do Estado e até da União. Erros frequentes em provas ocorrem ao isolar a mobilidade das demais políticas urbanas.
O inciso II estabelece uma escala clara de prioridades: modos não motorizados têm preferência sobre os motorizados. Ou seja, caminhar, pedalar e utilizar transportes públicos coletivos são opções a serem incentivadas em relação ao transporte individual motorizado. Esse ponto é motivo de confusão em questões objetivas, principalmente quando as opções tentam inverter a ordem de prioridade.
No inciso III, note a exigência de integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Já não basta apenas que os sistemas existam: eles devem ser interligados e articulados, garantindo facilidade nos deslocamentos, troca de modais e eficiência para o usuário final.
Mitigar custos ambientais, sociais e econômicos, como destaca o inciso IV, significa que o poder público deve buscar soluções para que o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades seja menos poluente, menos caro e menos impactante para a sociedade. Esse é um dos pilares da gestão sustentável.
O incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis (inciso V) mostra que inovação não é opcional: é diretriz legal. O setor de mobilidade deve buscar sempre soluções tecnológicas mais limpas, seguras e eficientes.
Siga agora para a priorização de projetos coletivos — inciso VI. Só serão realmente estruturadores aqueles projetos de transporte público coletivo que servem como alicerce do território: influenciam o crescimento ordenado da cidade, integram bairros e promovem o desenvolvimento urbano conjunto. Questões de concurso podem tentar confundir, sugerindo que qualquer projeto coletivo já é automaticamente estruturador.
O conceito de cidades gêmeas na faixa de fronteira, trazido no inciso VII, merece atenção. A lei determina não só a possibilidade, mas a necessidade de integração entre essas cidades, facilitando o transporte transfronteiriço e promovendo o desenvolvimento colaborativo nas áreas de fronteira internacional.
Por último, o inciso VIII, acrescentado por legislação posterior, garante a sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo. A preocupação aqui é tripla: continuidade (serviço não pode parar), universalidade (deve atender todos) e modicidade tarifária (tarifa justa).
- Grave o seguinte: cada diretriz deve ser interpretada em sua totalidade, considerando os dispositivos exatos. A substituição ou omissão de termos em provas pode alterar completamente o sentido — fique atento a palavras como “integração”, “prioridade”, “mitigação”, “incentivo”, “sustentabilidade”, “universalidade”.
- Preste atenção em eventuais cruzamentos entre as diretrizes: por exemplo, a integração de políticas (inciso I) frequentemente se relaciona com o incentivo à inovação tecnológica (inciso V) e com a sustentabilidade (inciso VIII).
Veja uma dica prática: a expressão “prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado” aparece em diversas bancas, muitas vezes trocando coletivo por individual para testar sua leitura. Jamais perca de vista a literalidade.
Agora, reflita: você percebe a amplitude destas diretrizes? Elas não servem apenas para inspirar políticas públicas, mas para criar parâmetros de legalidade para ações e projetos. Assim, qualquer ato que contrarie alguma dessas diretrizes pode ser questionado pela sociedade ou até ser considerado ilegal.
Domine cada termo, relacione incisos e lembre-se: interpretar o texto legal na íntegra é a chave para não cair em pegadinhas, especialmente na gestão integrada e sustentável das cidades.
Questões: Diretrizes para gestão integrada e sustentável
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece que a integração com a política de desenvolvimento urbano é fundamental para a promoção de uma mobilidade eficiente e acessível, independentemente das características locais dos entes federativos.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana prioriza o transporte individual motorizado em relação aos modos de transporte não motorizados, visando uma maior eficiência na movimentação de pessoas nas cidades.
- (Questão Inédita – Método SID) A diretriz que fala sobre a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos tem como objetivo tornar o transporte urbano menos oneroso e poluente, promovendo uma gestão urbana mais sustentável.
- (Questão Inédita – Método SID) O incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis é uma diretriz que busca promover soluções tecnológicas mais limpas na mobilidade urbana, independentemente de sua aplicabilidade prática.
- (Questão Inédita – Método SID) A diretriz que garante a sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo assegura não só a continuidade do serviço, mas também que ele atenda a todos os cidadãos com tarifas acessíveis.
- (Questão Inédita – Método SID) A integração entre modos e serviços de transporte urbano é uma diretriz que visa apenas a eficiência na operação dos serviços, sem relação com a experiência do usuário final.
- (Questão Inédita – Método SID) A diretriz que menciona a prioridade de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território implica que esses projetos têm a função de orientar o desenvolvimento urbano e a integração de diferentes áreas da cidade.
Respostas: Diretrizes para gestão integrada e sustentável
- Gabarito: Certo
Comentário: A integração entre as políticas de mobilidade e desenvolvimento urbano é uma diretriz central da Política Nacional de Mobilidade Urbana, destacando a importância da articulação entre diferentes áreas para seu planejamento e execução.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A diretriz claramente estabelece a prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados, evidenciando uma intenção de promover formas de deslocamento mais sustentáveis.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: Esse princípio é fundamental para que as políticas de mobilidade tragam benefícios diretos à sociedade e ao meio ambiente, indicando que a gestão dos deslocamentos deve reduzir impactos negativos.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: Embora a diretriz incentive o uso de tecnologias limpas, ela também implica em sua aplicabilidade e eficácia na melhoria da mobilidade urbana, sendo essencial que as soluções sejam praticáveis.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A sustentabilidade econômica é uma diretriz para que o transporte público seja viável e acessível a todos, refletindo a preocupação com a universalidade e modicidade tarifária do serviço.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: Essa diretriz não apenas busca eficiência, mas também garantir uma experiência melhor para o usuário, facilitando a troca entre diferentes modais e promovendo uma mobilidade mais acessível.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: O foco na priorização de projetos estruturadores reforça que esses devem influenciar o crescimento da cidade e a articulação entre os bairros, reconhecendo a importância do planejamento urbano no transporte.
Técnica SID: PJA
Objetivos para redução de desigualdades e inclusão social
Na Política Nacional de Mobilidade Urbana, os objetivos ligados à redução de desigualdades e à promoção da inclusão social são destacados de maneira literal. O artigo 7º da Lei nº 12.587/2012 lista de forma clara esses objetivos, que norteiam todas as políticas e estratégias adotadas pelo poder público nos sistemas de transporte urbano. É fundamental enxergar a ligação direta entre mobilidade e justiça social ao estudar este tópico.
Os incisos do artigo 7º tratam de maneira expressa tanto da inclusão social quanto do acesso aos serviços públicos e de infraestrutura básica. Note como cada objetivo é especificado em termos de impacto social, ambiental e de governança, detalhando o caminho para a construção de uma cidade menos desigual e mais acessível.
Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
I – reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e
V – consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.
Observe com atenção: a expressão literal do inciso I — “reduzir as desigualdades e promover a inclusão social” — é direta e objetiva. Essa escolha reforça a busca ativa por um ambiente urbano mais equitativo, em que serviços de transporte ajudem a superar barreiras de acesso entre diferentes grupos sociais.
No inciso II, a lei avança garantindo que a mobilidade urbana não se limita ao simples deslocamento, pois também deve facilitar o acesso a serviços como saúde, educação, segurança e lazer. Pense, por exemplo, em bairros periféricos onde uma linha de ônibus eficiente pode ser determinante para que crianças frequentem escolas melhores ou para que famílias cheguem com segurança a hospitais.
O inciso III, ao falar de “melhoria nas condições urbanas… no que se refere à acessibilidade e à mobilidade”, destaca que a política não pode deixar de lado as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A lei considera a mobilidade como direito, e não apenas uma facilidade, incluindo pessoas de todas as idades e condições em seu escopo.
Merece atenção também o inciso IV, que incorpora a ideia de desenvolvimento sustentável. A lei evidencia que reduzir desigualdades não se separa de pensar nos custos ambientais e sociais das formas de transporte — ao incentivar sistemas mais limpos e inclusivos, o poder público contribui ao mesmo tempo para a saúde ambiental e social da cidade.
Finalmente, o inciso V introduz o conceito de gestão democrática, apontando que a participação popular é requisito para o progresso contínuo da mobilidade urbana. Isso significa que ouvir a sociedade, permitir o controle social e incorporar opiniões de usuários beneficia diretamente a busca por equidade e inclusão.
Em concursos, este artigo pode aparecer tanto de maneira direta nas provas objetivas (exigindo a identificação exata dos objetivos) quanto em questões que pedem a interpretação detalhada dos seus efeitos práticos. Fique atento às expressões-chave: “redução de desigualdades”, “inclusão social”, “acesso aos serviços básicos”, “acessibilidade”, “mobilidade” e “gestão democrática”.
Para fixação: qualquer alternativa que omita um desses objetivos, os resuma de forma incompleta ou troque suas finalidades acaba contrariando o texto da lei. Memorize a literalidade e compreenda o sentido amplo dos incisos, enxergando-os como pilares para tornar as cidades mais justas, participativas e adequadas para todos.
Questões: Objetivos para redução de desigualdades e inclusão social
- (Questão Inédita – Método SID) Na Política Nacional de Mobilidade Urbana, um dos objetivos principais é a redução das desigualdades e a promoção da inclusão social, que deve ser considerado como um direito. Isso implica que a mobilidade não deve ser vista apenas como uma facilidade, mas como um recurso essencial para garantir acesso igualitário aos serviços públicos, como saúde e educação.
- (Questão Inédita – Método SID) O inciso II da Política Nacional de Mobilidade Urbana evidencia que a mobilidade é essencial apenas para o deslocamento de pessoas e cargas, sem considerar o acesso a serviços sociais.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana prioriza a gestão democrática como condição para aprimorar a mobilidade nas cidades, assegurando que a participação da população nas decisões é um aspecto fundamental para o desenvolvimento dessa política.
- (Questão Inédita – Método SID) O conceito de desenvolver um sistema de mobilidade sustentável está vinculado à ideia de que as cidades devem reduzir os impactos ambientais e socioeconômicos negativos causados pelos transportes, conforme preconiza a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) A inclusão social, conforme detalhado na Política Nacional de Mobilidade Urbana, não considera a importância da acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, focando apenas em questões de deslocamento.
- (Questão Inédita – Método SID) A ligação entre a mobilidade urbana e a justiça social é fundamental para que as políticas públicas adotadas promovam um ambiente urbano mais equitativo, de acordo com os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Respostas: Objetivos para redução de desigualdades e inclusão social
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a Política Nacional de Mobilidade Urbana reconhece a mobilidade como um direito que contribui para a inclusão social, possibilitando que todos, independentemente de suas condições sociais, tenham acesso efetivo a serviços básicos.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está errada, pois o inciso II enfatiza que a mobilidade deve promover também o acesso a serviços básicos, reforçando a necessidade de um transporte eficiente que contribua para a inclusão e melhoria na qualidade de vida da população.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, uma vez que o inciso V da política destaca a importância da gestão democrática e da participação popular como elementos essenciais para alcançar os objetivos da mobilidade de forma equitativa e acessível.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois o inciso IV expressa que o desenvolvimento sustentável deve ser promovido por meio da mitigação dos custos ambientais e sociais associados ao deslocamento, indicando a relevância de se pensar em um transporte mais limpo e eficaz.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está errada, uma vez que a política destaca explicitamente a necessidade de melhorar as condições urbanas em relação à acessibilidade e mobilidade, abarcando assim as demandas de todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a Política Nacional de Mobilidade Urbana considera a equidade social como um dos pilares para a construção de uma cidade mais justa, onde a mobilidade se torna um meio de superação de desigualdades.
Técnica SID: PJA
Regulação dos Serviços de Transporte Público Coletivo (arts. 8º a 10)
Política tarifária e diretrizes
A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é composta por um conjunto de diretrizes detalhadas no art. 8º da Lei nº 12.587/2012. Esses parâmetros servem como base para todo o processo de formação, cobrança e revisão das tarifas, além de orientar a transparência e o equilíbrio econômico dos serviços. Para quem estuda para concursos, o segredo está em “fotografar” cada uma dessas diretrizes, atento às palavras usadas e à forma como a lei organiza as obrigações do poder público e dos operadores.
O art. 8º faz uma lista minuciosa de critérios que visam equidade, eficiência, modicidade tarifária e integração, além de prever instrumentos de divulgação e controle. Note a quantidade de incisos e a variedade de temas abordados. Assim, todo item pode ser cobrado isoladamente em provas, especialmente com comandos que trocam, invertem ou ignoram termos-chave.
Art. 8º A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:
I – promoção da equidade no acesso aos serviços;
II – melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;
III – ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;
IV – contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;
V – simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão;
VI – modicidade da tarifa para o usuário;
VII – integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado nas cidades;
VIII – articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos;
IX – estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo; e
X – incentivo à utilização de créditos eletrônicos tarifários.
Olhe com cuidado: termos como “promoção da equidade”, “contribuição dos beneficiários diretos e indiretos”, “simples compreensão” e “publicidade do processo de revisão” são requisitos expressos e não podem ser desprezados. Cada inciso detalha um aspecto fundamental para a implementação do serviço de ônibus, metrô, VLT e outros modais urbanos.
A Lei ainda determina obrigações de transparência. No §2º do mesmo artigo, o foco é informar a sociedade sobre os impactos das políticas tarifárias. Veja o texto literal:
§ 2º Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo.
Isso significa que qualquer benefício tarifário, como isenção ou desconto concedido a um grupo específico, deve ter seu impacto financeiro publicado e tornado público pelo Município. Esse detalhe muitas vezes passa despercebido em leitura superficial, mas é exigência literal da lei.
A tarifa só será realmente legítima se estiver em sintonia com essas diretrizes, unindo aspectos sociais (equidade), econômicos (modicidade e participação dos beneficiários) e de qualidade (padrão de atendimento e eficiência).
O próximo passo é entender como a tarifa é formada, quem decide sobre ela e como funciona o equilíbrio financeiro do sistema. Todos esses pontos aparecem no artigo seguinte, o art. 9º, que regula o regime econômico e financeiro da concessão/permissão do transporte público coletivo.
Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público.
Aqui, repare: a tarifa de remuneração é definida no edital da licitação e nasce desse processo de outorga conduzido pelo poder público. Significa que o valor a ser praticado não é aleatório ou arbitrário, mas sim estabelecido conforme as regras do edital.
Nos parágrafos seguintes, a Lei detalha como a tarifa é composta, os conceitos de tarifa pública, subsídio tarifário e superavit, e os instrumentos do poder público na fixação e revisão desses valores. Fique atento à literalidade dos conceitos de deficit (subsídio) e superavit tarifário:
§ 1º A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador.
A tarifa de remuneração equivale ao somatório do valor pago pelos usuários (tarifa pública) mais receitas de outras fontes. O objetivo é garantir que todos os custos do serviço, inclusive a remuneração do operador, sejam cobertos. Se faltar dinheiro, surge o deficit (subsídio). Se sobrar, cria-se o superavit.
§ 2º O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público outorgante.
As bancas gostam de trocar “tarifa de remuneração” por “tarifa pública” e vice-versa. A tarifa pública é simplesmente o valor pago pelo usuário no uso do serviço, instituída por ato específico do poder público que outorga (delegante) a concessão/permissão.
§ 3º A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se deficit ou subsídio tarifário.
Se o usuário paga menos do que o valor da tarifa de remuneração necessária ao equilíbrio econômico do contrato (contando todos os custos do serviço), essa diferença negativa é chamada deficit tarifário ou subsídio tarifário. Ou seja, o sistema está deficitário – alguém precisa compensar esta diferença.
§ 4º A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se superavit tarifário.
Se ocorre o oposto, isto é, se a tarifa de remuneração for maior que a tarifa pública, surge um superavit. Essa diferença positiva precisa ter destinação definida em lei e deve ser reinvestida no próprio sistema.
§ 5º Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o deficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante.
Perceba: quando o sistema está deficitário, o Município não deve simplesmente “cobrir o buraco” sem critério. A lei prevê fontes específicas de financiamento, incluindo receitas alternativas e subsídios, que devem ser instituídos formalmente.
§ 6º Na ocorrência de superavit tarifário proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade Urbana.
Aqui está o cuidado com o excedente financeiro: todo superavit precisa obrigatoriamente ser direcionado ao próprio Sistema de Mobilidade Urbana. Situações de desvio ou destinação diversa vão contra o comando legal.
§ 7º Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário.
Fixação, reajuste e revisão das tarifas – todos esses poderes estão nas mãos do ente público que faz a outorga da concessão ou permissão. Note que isso vale tanto para a tarifa de remuneração quanto para a tarifa pública.
§ 8º Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários.
Além dos valores específicos, a lei ainda garante ao poder público delegante o direito de definir diferentes “níveis” tarifários — faixas que podem variar de acordo com horários, localidades ou perfis de serviço.
§ 9º Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários.
Na prática, os reajustes tarifários devem ocorrer em periodicidade mínima prevista no edital e contrato. Um detalhe importante: sempre que houver ganhos de produtividade e eficiência das operadoras, parte desse ganho deve ser transferido em benefício dos usuários, ou seja, em modicidade tarifária.
§ 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão:
I – incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário;
II – incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários; e
III – aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.
Fique atento aos três elementos obrigatórios das revisões ordinárias: receitas alternativas para baratear a tarifa ao usuário; transferência dos ganhos de eficiência; aferição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão ou permissão.
§ 11. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa de remuneração.
O operador pode conceder descontos (inclusive em épocas específicas), desde que autorizado pelo poder público. Mas essa concessão não gera direito a pedir revisão do valor-base da tarifa de remuneração. Pegadinha comum: descontos não mudam a regra geral do contrato.
§ 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.
Revisão extraordinária é exceção, sempre justificada pelo interesse público. Pode ocorrer de ofício pelo poder público ou por solicitação das empresas, mas exige demonstração clara da necessidade, instrução adequada do pedido, e ampla publicidade do ato.
Para uma visão completa sobre como essas regras se aplicam aos editais e contratos, o artigo 10 complementa as exigências da política tarifária ao tratar da contratação dos serviços:
Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:
I – fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação;
II – definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas;
III – alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente;
IV – estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e
V – identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária.
Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8º e 9º desta Lei.
Essas regras obrigam que o edital e o contrato detalhem não só metas de qualidade e penalidades, mas também a divisão clara dos riscos e a transparência das receitas extras empregadas para garantir a modicidade tarifária. Todo subsídio deve ter critérios objetivos, ser previsto contratualmente, aplicar recursos definidos e mostrar beneficiários, de acordo com os arts. 8º e 9º.
Se cair uma questão que inverta quem define metas ou que sugira que o operador pode alterar a tarifa livremente, ou omita a necessidade de licitação, é preciso lembrar: todas essas etapas e controles estão expressos de modo literal nesses dispositivos. Cada comando traduz uma proteção ao interesse público e ao equilíbrio financeiro do serviço.
Questões: Política tarifária e diretrizes
- (Questão Inédita – Método SID) A política tarifária do serviço de transporte público coletivo deve ser baseada em diretrizes que garantam, entre outras coisas, a promoção da equidade no acesso aos serviços e a melhoria da eficiência na prestação dos serviços.
- (Questão Inédita – Método SID) A política tarifária pode ignorar questões de modicidade tarifária se houver superávit na prestação dos serviços públicos de transporte.
- (Questão Inédita – Método SID) A contribuição dos beneficiários diretos e indiretos é uma diretriz da política tarifária que assegura o custeio da operação dos serviços de transporte público coletivo.
- (Questão Inédita – Método SID) Os Municípios não têm a obrigatoriedade de divulgar os impactos dos benefícios tarifários concedidos sobre as tarifas dos serviços de transporte público coletivo.
- (Questão Inédita – Método SID) O poder público delegante tem o direito exclusivo de fixar, reajustar e revisar as tarifas de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo.
- (Questão Inédita – Método SID) Os operadores do serviço de transporte público podem realizar reajustes nas tarifas sem a necessidade de autorização do poder público, quando houver melhora na eficiência dos serviços prestados.
Respostas: Política tarifária e diretrizes
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta, pois as diretrizes da política tarifária realmente visam garantir equidade e eficiência, conforme previsto na legislação. Essas diretrizes são fundamentais para assegurar um serviço de transporte coletivo mais justo e eficaz.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A questão está incorreta, pois a modicidade tarifária deve ser observada independentemente de superávit, garantindo que a tarifa para o usuário não seja excessiva. A legislação exige que os preços sejam justos e equitativos para todos os usuários.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta, pois está de acordo com as diretrizes que determinam a colaboração dos beneficiários para o custeio, buscando um equilíbrio econômico na oferta dos serviços de transporte.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está equivocada, pois a lei exige que os Municípios divulgarem os impactos dos benefícios tarifários, garantindo a transparência no processo tarifário e permitindo o acesso à informação para toda a sociedade.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta, pois cabe ao poder público a responsabilidade pela definição e revisão das tarifas, assegurando que estas estejam alinhadas com os melhores interesses do serviço e do usuário.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é incorreta, uma vez que qualquer alteração nas tarifas deve ser aprovada pelo poder público conforme as diretrizes legais, mesmo que haja ganhos de produtividade, preservando assim o equilíbrio do sistema tarifário.
Técnica SID: SCP
Regime econômico e financeiro das concessões
O regime econômico e financeiro das concessões e permissões do serviço de transporte público coletivo está detalhado na Lei nº 12.587/2012, especialmente no art. 9º. Esse artigo regulamenta como são estabelecidas as tarifas, as receitas, os reequilíbrios e as revisões contratuais relacionadas a esses serviços. É um dos dispositivos centrais para entender quem paga, como se calcula a tarifa e quais os mecanismos de equilíbrio financeiro dos contratos nessa área da mobilidade urbana.
Observe com atenção a literalidade das expressões, a ordem dos elementos e o conceito de cada tipo de tarifa. Questões de concurso comumente exploram detalhes, como diferença entre “tarifa pública” e “tarifa de remuneração”, além das condições para subsídio, superavit e direitos do usuário. Fique atento também à indicação de que tudo parte do processo licitatório.
Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público.
Esse início já determina uma regra fundamental: todas as condições econômicas do contrato devem constar no edital. A tarifa de remuneração, conceito-chave para provas, decorre do processo de licitação — não pode ser fixada de modo arbitrário pelo gestor.
§ 1º A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador.
Veja como a lei soma dois componentes para formar a tarifa de remuneração: o valor que o usuário paga (“preço público”) e outras fontes de receita. O objetivo é garantir a cobertura dos custos reais do serviço, além de proporcionar remuneração adequada ao operador. Questões de SCP frequentemente testam se o aluno inverte ou omite um desses elementos.
§ 2º O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público outorgante.
Este parágrafo separa o conceito de “preço público” (que o usuário paga) — o nome correto é tarifa pública. Só o poder público pode instituí-la, via ato administrativo específico. Muita atenção para não confundir tarifa pública (usuário) e tarifa de remuneração (prestador).
§ 3º A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina- se deficit ou subsídio tarifário.
Se a tarifa de remuneração é maior do que a tarifa pública paga pelo usuário, surge o deficit, ou subsídio tarifário. Ou seja, existe uma diferença a ser coberta de outra forma. O detalhe aqui é fundamental: deficit significa cobrança menor do usuário do que o necessário para cobrir os custos.
§ 4º A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina- se superavit tarifário.
Nesse caso, se a tarifa de remuneração é menor do que aquilo efetivamente pago na tarifa pública cobrada do usuário, ocorre o superavit tarifário. Ou seja, sobra receita. Em concursos, fique atento à inversão desses conceitos.
§ 5º Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o deficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante.
Quando houver deficit (subsídio tarifário), a lei obriga que isso seja coberto com receitas específicas, como receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios do orçamento e subsídios cruzados. Todas essas fontes devem ser estabelecidas pelo poder público delegante. É preciso memorizar cada uma dessas fontes para evitar erros de SCP ou PJA em provas.
§ 6º Na ocorrência de superavit tarifário proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade Urbana.
Caso exista superavit, a receita extra não vai para outras áreas, mas deve ser revertida ao próprio Sistema de Mobilidade Urbana. O objetivo desse dispositivo é garantir que eventuais ganhos a mais permaneçam como benefício para o sistema, melhorando a qualidade do serviço.
§ 7º Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário.
A lei define clara competência: só o poder público que concedeu ou permitiu o serviço pode fixar, reajustar e revisar tanto a tarifa de remuneração quanto a tarifa pública. Provas podem questionar se o operador privado teria essa prerrogativa — o texto legal é taxativo ao negar essa possibilidade.
§ 8º Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários.
Além de definir valores, cabe ao mesmo ente fixar os “níveis tarifários”, ou seja, a estrutura e faixas dos valores que podem existir, como tarifas diferenciadas por horário, lotação, categoria de veículo, etc. Mais uma vez, esse ato é exclusivo do poder público.
§ 9º Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários.
O reajuste das tarifas segue periodicidade mínima definida previamente no edital e contrato. Detalhe importante: cada reajuste deve, obrigatoriamente, repassar ao usuário parte dos ganhos de eficiência e produtividade obtidos pelos operadores. O legislador busca garantir que o usuário seja beneficiado com qualquer melhoria no sistema.
§ 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão:
I – incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário;
II – incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários; e
III – aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.
Além dos reajustes, a lei prevê as revisões ordinárias da tarifa, também com periodicidade mínima estabelecida no edital e no contrato. Elas servem para: garantir que receitas alternativas ajudem a manter a tarifa acessível ao usuário, repassar ao usuário ganhos de eficiência e produtividade, e aferir se existe equilíbrio econômico-financeiro conforme critérios contratuais. Todos estes pontos aparecem juntos no dispositivo, então memorize as três finalidades para evitar omissões em provas.
§ 11. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa de remuneração.
É permitido ao operador conceder descontos ao usuário, inclusive temporários (“sazonais”), desde que haja autorização do poder público. Atenção: essa prática não permite pedir revisão da tarifa de remuneração. Em provas, questões podem inverter essa relação — o operador não tem direito a recomposição de valores por escolher dar desconto.
§ 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.
Por fim, existe a possibilidade de revisão extraordinária das tarifas, desde que fundamentada em interesse público. Pode ocorrer por decisão direta (“ato de ofício”) ou a pedido da empresa. Se o pedido parte do operador, é necessário apresentar justificativas detalhadas e documentação completa. Além disso, o ato precisa ser público, garantindo transparência.
- Resumo do que você precisa saber
- O regime econômico e financeiro é detalhado no edital e contrato de licitação.
- Tarifa pública é o valor cobrado do usuário; tarifa de remuneração inclui essa tarifa somada a outras receitas.
- Deficit tarifário ocorre quando o usuário paga menos que o necessário — deve ser compensado por receitas alternativas; superavit deve ser revertido ao sistema.
- Só o poder público pode fixar e revisar tarifas e níveis tarifários.
- Ganhos de eficiência e receitas alternativas devem beneficiar o usuário.
- Descontos dados pelo prestador nunca autorizam reajuste de tarifa em seu favor.
- Revisão extraordinária é possível, mas exige justificativa e transparência.
Para o concurseiro, conhecer cada termo, cada competência e cada espécie de receita prevista neste artigo é um diferencial. Alertar-se para detalhes de literalidade garante segurança em provas de alta exigência interpretativa.
Questões: Regime econômico e financeiro das concessões
- (Questão Inédita – Método SID) O regime econômico e financeiro das concessões de transporte público coletivo deve ser estabelecido no edital de licitação, onde constará a tarifa de remuneração, que é definida de maneira arbitrária pelo gestor público.
- (Questão Inédita – Método SID) A tarifa pública cobrada do usuário pelo transporte coletivo é definida pelo prestador do serviço, independentemente de ato do poder público.
- (Questão Inédita – Método SID) O deficit tarifário ocorre quando a tarifa pública cobrada do usuário é superior à tarifa de remuneração, o que obriga o poder público a buscar fontes alternativas de financiamento para cobrir a diferença.
- (Questão Inédita – Método SID) Em caso de superavit tarifário, a receita adicional deve ser revertida para o Sistema de Mobilidade Urbana, visando à melhoria contínua do serviço prestado.
- (Questão Inédita – Método SID) A revisão extraordinária das tarifas de transporte público pode ser feita pelo poder público em caráter excepcional, mas deve ser acompanhada de justificativas e publicidade do ato, independentemente da solicitação do prestador de serviços.
- (Questão Inédita – Método SID) A tarifa de remuneração é composta apenas pelo valor pago pelo usuário, não considerando outras receitas que possam ser utilizadas no custeio do serviço.
Respostas: Regime econômico e financeiro das concessões
- Gabarito: Errado
Comentário: A tarifa de remuneração não pode ser definida de modo arbitrário; ela decorre do processo licitatório e deve constar no edital. A apreciação das tarifas deve seguir as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, garantindo a transparência e a legalidade.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A tarifa pública deve ser instituída por ato específico do poder público outorgante, não podendo ser definida pelo prestador. Essa diferenciação é crucial para a regulação do serviço público de transporte.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: O deficit tarifário se verifica quando a tarifa pública é menor do que a tarifa de remuneração, o que resulta na necessidade de compensação através de receitas alternativas. O aluno deve compreender a definição correta de deficit tarifário e suas implicações financeiras.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A legislação estabelece que a receita proveniente de superavit tarifário deve ser reinvestida no Sistema de Mobilidade Urbana, garantindo sua eficácia e qualidade. Esse mecanismo busca assegurar que os benefícios financeiros do sistema retornem a ele.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A possibilidade de revisão extraordinária das tarifas é prevista na legislação, desde que a necessidade seja justificada e o ato seja público, garantindo a transparência e a conformidade com o interesse público.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A tarifa de remuneração é composta pelo preço público cobrado do usuário, acrescido de outras fontes de receita, assegurando a cobertura dos custos reais do serviço prestado. A compreensão desta estrutura é fundamental para a análise correta do regime econômico.
Técnica SID: PJA
Metas de qualidade, incentivos e penalidades
Dominar a regulação dos serviços de transporte público coletivo envolve compreender como a legislação exige padrões de qualidade e performance dos serviços. O artigo 10 da Lei nº 12.587/2012 determina que a contratação desses serviços, por meio de licitação, precisa contemplar metas claras de desempenho, instrumentos de controle, além da previsão de incentivos e sanções. Esses elementos são centrais para garantir que o transporte público funcione adequadamente, responda às necessidades da população e mantenha padrões de eficiência e transparência.
Preste atenção: cada elemento listado pelo artigo 10 aponta responsabilidades tanto para quem presta o serviço quanto para a administração pública. A presença de incentivos e penalidades vinculados às metas significa que as empresas ou entidades responsáveis têm ganhos caso atinjam (ou superem) as expectativas e podem ser penalizadas caso falhem. Isso equilibra interesses e ajuda o poder público a assegurar que o serviço coletivo tenha melhoria contínua. Analise cuidadosamente cada inciso e o parágrafo único, atentos à literalidade da lei:
Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:
I – fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação;
II – definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas;
III – alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente;
IV – estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e
V – identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária.
Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8º e 9º desta Lei.
Veja o ponto nevrálgico do inciso I: a lei exige que as metas de qualidade e desempenho sejam objetivas e mensuráveis. Imagine o seguinte: um serviço de ônibus, por exemplo, pode ter como meta a pontualidade mínima de 95% em todos os horários. Para isso, o contrato precisa prever instrumentos de controle e avaliação — ou seja, mecanismos para acompanhar resultados e verificar se as metas estão sendo atingidas.
O inciso II traz a obrigatoriedade da definição de incentivos e penalidades. É o princípio do “premiar e punir”: caso o operador atinja ou ultrapasse as metas, pode receber benefícios previamente estabelecidos; se não cumprir, recebe penalizações. Fique atento: a lei exige que tanto os incentivos quanto as penalidades tenham ligação direta com o alcance (ou não) das metas. Não basta punir por descumprimento geral ou premiar por mera regularidade, é preciso estar atrelado aos objetivos do serviço público contratado.
No inciso III, a legislação fala em alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente. Isso significa que, no contrato, deve ficar claro: quem arca com que tipos de riscos? Por exemplo, variações inesperadas no preço do combustível, queda de demanda ou prejuízos por greves. A definição transparente desses riscos previne litígios e insegurança jurídica.
Já o inciso IV determina que o contrato precisa detalhar as condições e meios para que o operador preste informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente. Em outras palavras, as empresas contratadas não podem simplesmente operar sem transparência; precisam entregar dados que permitam ao poder público acompanhar contas, rotas, lotação, custos e resultados.
Por fim, o inciso V destaca a identificação de eventuais fontes de receitas alternativas (publicidade em veículos, aluguel de espaços nos terminais, por exemplo), além de receitas complementares, acessórias e projetos associados, indicando também a parcela destinada à redução de tarifas (modicidade tarifária). Repare: até fontes que não vêm diretamente da tarifa dos usuários podem ser identificadas e previstas no contrato, tudo com vistas à qualidade e ao preço justo do serviço.
O parágrafo único dá enfoque especial à transparência nos subsídios tarifários concedidos ao serviço de transporte coletivo. Cada subsídio precisa ser definido em contrato, com critérios objetivos de produtividade e eficiência. Isso obriga a especificar, no mínimo, o porquê, a fonte dos recursos, a periodicidade do subsídio e quem será o beneficiário direto desse subsídio.
Que detalhe costuma confundir candidatos em provas? Repare que a lei não prevê um modelo único para as metas de qualidade — cada contrato poderá ajustar esses parâmetros segundo a realidade local e o edital da licitação, desde que haja clareza, instrumentos de controle e os incentivos/penalidades estejam vinculados ao atingimento das metas. Fique atento aos termos “fixação de metas”, “instrumentos de controle e avaliação” e “incentivos e penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas”. Pequenas trocas dessas palavras mudam o sentido e são recorrentes em pegadinhas de concursos.
Qualquer dúvida comum que surge é: o parágrafo único exige que o subsídio seja simplesmente publicado? Não! O texto destaca que deve ser “definido em contrato”, com base em critérios transparentes e objetivos, especificando objetivo, fonte, periodicidade e beneficiário, em consonância com o que estabelecem os artigos 8º e 9º da Lei. Atenção aos detalhes para não cair em armadilhas de leitura superficial!
Se durante a leitura da lei surgir a expressão “meta de qualidade”, lembre-se: envolve sempre instrumentos claros de mensuração e mecanismos de controle, além de consequências — sejam elas positivas (incentivos), sejam negativas (penalidades) — estipuladas com base no atingimento dessas metas. E qualquer subsídio relacionado precisa estar completamente detalhado no contrato, jamais de modo genérico ou apenas citado em regulamento ou ato administrativo avulso.
Questões: Metas de qualidade, incentivos e penalidades
- (Questão Inédita – Método SID) A legislação que regula os serviços de transporte público coletivo exige a definição clara de metas mensuráveis de qualidade e desempenho, associando incentivos e penalidades ao cumprimento dessas metas, a fim de melhorar a eficiência do serviço.
- (Questão Inédita – Método SID) A fixação de metas de desempenho em contratos de serviços de transporte público coletivo pode ser realizada de maneira geral, sem necessidade de definição de instrumentos de controle e avaliação eficazes.
- (Questão Inédita – Método SID) A legislação considera que os subsídios destinados ao transporte público coletivo não precisam ser detalhados em contrato, podendo ser definidos de forma genérica por atos administrativos.
- (Questão Inédita – Método SID) O contrato para a prestação de serviços de transporte público coletivo deve alocar claramente os riscos econômicos e financeiros entre o prestador do serviço e o poder concedente, objetivando evitar litígios e inseguranças.
- (Questão Inédita – Método SID) Segundo a legislação, a administração pública deve implantar instrumentos de controle e avaliação apenas para as metas que consideram a satisfação do usuário, sem relacionar tais instrumentos ao desempenho operacional.
- (Questão Inédita – Método SID) Todos os contratos de transporte público coletivo podem definir métodos de mensuração de qualidade e desempenho de forma distinta, desde que respeitem os princípios gerais exigidos pela legislação.
Respostas: Metas de qualidade, incentivos e penalidades
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a lei realmente determina que as metas devem ser claras e mensuráveis e que a relação entre cumprimento e consequências (incentivos ou penalidades) é essencial para garantir a eficiência e a responsabilidade dos prestadores de serviços.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está errada, pois a lei exige explicitamente que as metas devem ser acompanhadas por instrumentos de controle e avaliação, assegurando que os resultados sejam mensurados adequadamente.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está incorreta, pois a lei determina que os subsídios devem ser definidos em contrato com especificações claras, incluindo a fonte, periodicidade e beneficiário, visando assegurar a transparência e a eficiência na operação.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a alocação clara dos riscos é uma diretriz essencial da legislação, permitindo prevenir conflitos e garantir a segurança jurídica dos contratos.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está incorreta, uma vez que a lei exige que os instrumentos de controle e avaliação estejam diretamente ligados ao desempenho operacional e à qualidade do serviço oferecido, não somente à satisfação do usuário.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta. A legislação permite que cada contrato ajuste as metas de acordo com a realidade local, desde que mantenham clareza e os princípios fundamentais relacionados às metas de qualidade e ao controle e avaliação dos serviços.
Técnica SID: PJA
Serviços Privados e Táxi: Autorização e Fiscalização (arts. 11 a 12-B)
Regulamentação dos serviços privados individuais e coletivos
O funcionamento do transporte privado coletivo e do transporte remunerado privado individual de passageiros é fortemente regulado pela Lei nº 12.587/2012. Cada um desses serviços possui regras próprias de autorização, fiscalização e obrigações, sempre sob supervisão do poder público competente. Interpretar a literalidade desses dispositivos é vital, pois os detalhes e exigências específicos costumam ser alvo de pegadinhas em concursos.
Note que o transporte privado coletivo é controlado pelo poder público, que deve basear sua atuação nos princípios e diretrizes da própria lei. Já o transporte individual remunerado (por exemplo, motoristas de aplicativo) tem competência regulatória exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal, com exigências relevantes para o motorista. Atente para a precisão das palavras, pois trocas como “exclusivamente ao Município” por “Estados” invalidam o entendimento correto para provas.
Art. 11. Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.
O artigo 11 deixa claro: não basta atuar no transporte privado coletivo por mera decisão particular. O serviço depende expressamente de autorização, disciplina e fiscalização do poder público. Os fundamentos para esse controle são os próprios princípios e diretrizes da Lei nº 12.587/2012, garantindo que qualquer serviço ofertado siga padrões estabelecidos pelo interesse coletivo. Erros comuns em prova envolvem ignorar a necessidade de autorização prévia ou confundir serviços coletivos e individuais.
No contexto do transporte remunerado privado individual de passageiros — como os aplicativos de transporte — a lei traz dispositivos detalhados acerca da regulamentação e fiscalização, deixando essa competência, de modo exclusivo, aos Municípios e ao Distrito Federal. Observe a exclusividade: questões objetivas frequentemente tentam induzir à participação de outros entes (ex: Estado), o que não se coaduna com a letra da lei.
Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.
Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço:
I – efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;
II – exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);
III – exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Repare que a norma traz, de maneira detalhada, três exigências obrigatórias para a regulamentação desse serviço:
- Cobrança eficaz dos tributos municipais gerados pela atividade;
- Contratação de seguros obrigatórios (APP e DPVAT);
- Inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS.
Essas exigências não são opcionais. Elas devem ser aplicadas em toda norma municipal ou distrital que regulamente o transporte remunerado privado individual. Imagine uma questão que troque “deverão observar” por “poderão observar”: a resposta estaria errada, pois a lei impõe obrigação — e não faculdade — de observância a esses critérios.
O artigo seguinte aprofunda as condições para autorização do motorista. O objetivo é garantir requisitos objetivos para quem deseja operar legalmente o serviço. Observe atentamente cada termo, pois omissões ou mudanças sutis em provas podem gerar pegadinhas de difícil percepção.
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:
I – possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;
II – conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;
III – emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);
IV – apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.
Preste atenção:
- A habilitação deve ser de categoria B ou superior, e obrigatoriamente conter a anotação de atividade remunerada.
- O veículo deve se encaixar nos critérios definidos pela autoridade de trânsito local e pelo poder público municipal ou do DF, tanto quanto à idade quanto às características.
- O motorista precisa manter em dia o CRLV do veículo.
- É obrigatória a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.
A lei ainda deixa claro: operar sem preencher esses requisitos caracteriza transporte ilegal de passageiros, sujeito às penalidades previstas. Não se trata de mera irregularidade — trata-se de ato ilegal.
Por fim, no tocante aos serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros, a lei determina que estão sujeitos à organização, disciplina e fiscalização pelo poder municipal, respeitando requisitos mínimos para serviços ofertados à coletividade. Note como a lei detalha aspectos de segurança, conforto, higiene, qualidade e tarifação máxima — esses elementos podem aparecer isolados na prova e exigem atenção à literalidade.
Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.
O poder municipal tem, segundo a norma, ampla responsabilidade sobre os serviços de utilidade pública — como os táxis — devendo garantir segurança, conforto, higiene e qualidade. A fixação dos valores máximos das tarifas deve estar prevista antes do início dos serviços. Compreender essa estrutura evita erros conceituais em provas, como confundir a competência do município com a do Estado, ou supor que há plena liberdade tarifária no serviço público individual.
Em síntese, a literalidade dessas regras serve como bússola na interpretação durante estudos e provas. Cada detalhe do texto legal costuma ser cobrado em concursos de perfil técnico. Por isso, a atenção aos termos exatos, às competências e às obrigações é fundamental para desempenho acima da média.
Questões: Regulamentação dos serviços privados individuais e coletivos
- (Questão Inédita – Método SID) O transporte privado coletivo de passageiros exige autorização e vigilância do poder público, estando as diretrizes para sua operação explicitamente previstas em lei.
- (Questão Inédita – Método SID) Somente os Estados possuem a competência para regulamentar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no Brasil.
- (Questão Inédita – Método SID) O motorista de transporte privado individual deve garantir que seu veículo esteja registrado e licenciado para operar legalmente no serviço.
- (Questão Inédita – Método SID) A regulamentação de transportes privados individuais permite a escolha de seguros pelos motoristas, ou seja, eles podem optar por não contratar seguros obrigatórios.
- (Questão Inédita – Método SID) Os serviços de utilidade pública, como os de táxi, não precisam seguir requisitos mínimos de qualidade e segurança estabelecidos pelo poder público municipal.
- (Questão Inédita – Método SID) A exploração do serviço remunerado de transporte privado individual sem o cumprimento das exigências legais caracteriza-se como uma atividade irregular, mas não necessariamente ilegal.
Respostas: Regulamentação dos serviços privados individuais e coletivos
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta, pois a lei estabelece que o transporte privado coletivo deve ser autorizado, disciplinado e fiscalizado pelo poder público, conforme as diretrizes definidas. Essa regulamentação visa garantir a prestação de um serviço adequado e que atenda ao interesse coletivo.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é incorreta, pois a competência para a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros é exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal, e não dos Estados. Essa exclusividade é definida pela Lei nº 12.587/2012.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é correta. A lei exige que os motoristas mantenham o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em dia, o que é crucial para a legalidade da prestação do serviço de transporte privado individual de passageiros.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é incorreta, pois a lei impõe a obrigatoriedade da contratação de seguros específicos como o Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e o DPVAT para os motoristas, não permitindo a opção de não contratar esses seguros.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é incorreta, uma vez que a lei determina que os serviços de utilidade pública, incluindo o transporte individual de passageiros, devem seguir regras de segurança, conforto, higiene e qualidade, e que as tarifas devem ser fixadas previamente.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é falsa, pois a lei classifica a operação sem o cumprimento dos requisitos como transporte ilegal de passageiros. Essa infração é considerada uma violação das normas legais, sujeitando o operador a penalidades.
Técnica SID: PJA
Direitos e requisitos para exploração do serviço de táxi
O serviço de táxi é um dos mais tradicionais meios de transporte público individual no Brasil. Para garantir o funcionamento adequado, a Lei nº 12.587/2012 define critérios bem claros sobre quem pode explorar esse serviço e quais direitos são assegurados aos interessados. O texto legal exige atenção especial aos termos utilizados, pois podem ser objeto de pegadinhas em provas de concursos.
O foco principal está na organização, fiscalização e fixação de requisitos mínimos que busquem segurança, conforto, higiene, qualidade e padronização tarifária. Veja como a lei estabelece a responsabilidade dos Municípios quanto à regulação do táxi:
Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. (Artigo com redação dada pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013)
Note que não basta apenas autorizar o funcionamento; a lei impõe uma série de critérios que devem ser obrigatoriamente observados. O principal destaque aqui é o conceito de requisitos mínimos — muitos candidatos confundem e acreditam que a regulamentação seria facultativa ou limitada à mera cobrança de tarifas. Observe que a organização inclui elementos como segurança, conforto, higiene e qualidade dos serviços.
Outro ponto fundamental é a autorização para explorar o serviço de táxi. A legislação traz uma garantia de acesso a qualquer interessado que cumpra os requisitos estabelecidos pelo poder público local. Repare que há um aspecto de igualdade de oportunidade, condicionado ao atendimento das exigências.
Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013)
Aqui, vale destacar a palavra “outorgado”. O direito não é automático: é conferido a quem demonstra preencher todos os requisitos legais estabelecidos pelo Município. Esse é um mecanismo que visa profissionalizar o serviço, evitar clandestinidade e proteger tanto os profissionais quanto os usuários.
A legislação também aborda situações em que a outorga poderia ser transferida a terceiros ou aos sucessores legais do permissionário originário, nos termos das regras municipais e do Código Civil. Contudo, esses parágrafos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 5.337/2015. Veja abaixo os dispositivos, mas lembre-se que estão atualmente sem efeitos práticos por força da decisão do STF:
§ 1º É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013, e declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 5.337/2015, publicada no DOU de 11/3/2021 e no DOU de 3/5/2023)
§ 2º Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes do Título II do Livro V da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013, e declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 5.337/2015, publicada no DOU de 11/3/2021 e no DOU de 3/5/2023)
§ 3º As transferências de que tratam os §§ 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013, e declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 5.337/2015, publicada no DOU de 11/3/2021 e no DOU de 3/5/2023)
Mesmo não estando em vigor, é comum encontrar esses parágrafos em provas como elementos de confusão. Fique atento para não considerar corretos dispositivos cuja eficácia foi suspensa pelo STF. Observe sempre as atualizações normativas em questões que abordam possíveis herdeiros ou transferências de licenças.
Outro detalhe importante é a reserva obrigatória de vagas para condutores com deficiência na outorga de serviço de táxi. Esse ponto expressa o compromisso da legislação com a inclusão social e a acessibilidade. Veja o artigo específico:
Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por cento) das vagas para condutores com deficiência.
A fixação desse percentual não é opcional — trata-se de uma obrigação legal. Mas, para usufruir dessa reserva, o condutor com deficiência precisa observar certos requisitos quanto ao veículo utilizado, detalhados nos próximos incisos. Preste atenção na literalidade dos requisitos exigidos:
§ 1º Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado:
I – ser de sua propriedade e por ele conduzido; e
II – estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.
Perceba dois pontos centrais: o veículo deve ser de propriedade do condutor e conduzido por ele mesmo. Além disso, precisa estar adaptado conforme demanda da deficiência e segundo critérios estabelecidos em legislação específica.
Se as vagas reservadas não forem totalmente preenchidas por condutores com deficiência, a lei diz o que deve ser feito. Veja:
§ 2º No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
Esse mecanismo evita que vagas fiquem ociosas por falta de candidatos aptos dentro da reserva, garantindo a eficiência e a continuidade na oferta dos serviços de táxi. Atenção para o detalhe de que, após o prazo de preenchimento, as vagas podem ser abertas a outros interessados, sem necessidade de nova licitação específica para as vagas remanescentes.
Em resumo, a exploração do serviço de táxi está submetida à regulamentação minuciosa da autoridade municipal, previsão de inclusão social e respeito às regras próprias quanto à outorga e sua eventual transferência. O respeito à literalidade e à hierarquia das normas é fundamental tanto para o entendimento jurídico quanto para não errar questões de concurso.
Questões: Direitos e requisitos para exploração do serviço de táxi
- (Questão Inédita – Método SID) O serviço de táxi no Brasil deve seguir requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene, qualidade e fixação tarifária, que são responsabilidade exclusiva do poder público federal.
- (Questão Inédita – Método SID) A autorização para exploração do serviço de táxi pode ser outorgada a qualquer interessado que atenda aos requisitos exigidos pelo poder público municipal, sendo isso um direito automático assegurado pela lei.
- (Questão Inédita – Método SID) Na outorga de exploração do serviço de táxi, a legislação prevê que 10% das vagas devem ser reservadas para condutores com deficiência que utilizem veículos adaptados às suas necessidades.
- (Questão Inédita – Método SID) A transferência da outorga para a exploração do serviço de táxi poderá ocorrer automaticamente para os sucessores do permissionário falecido, independentemente da regulamentação municipal.
- (Questão Inédita – Método SID) Se as vagas reservadas para condutores com deficiência não forem preenchidas, a legislação determina que essas vagas devem ser imediatamente redistribuídas a outros concorrentes.
- (Questão Inédita – Método SID) A lei estabelece que a exploração do serviço de táxi deve estar acompanhada por uma série de requisitos, sendo a fixação da tarifa um dos principais elementos a serem adequados pelos Municípios.
Respostas: Direitos e requisitos para exploração do serviço de táxi
- Gabarito: Errado
Comentário: A responsabilidade pela organização, disciplina e fiscalização do serviço de táxi é do poder público municipal, e não federal, conforme a legislação. Portanto, a afirmação é incorreta.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: O direito à exploração do serviço de táxi não é automático; ele é condicionado ao cumprimento dos requisitos impostos pela legislação municipal, o que visa assegurar a profissionalização e a qualidade do serviço.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a legislação realmente estabelece a reserva de 10% das vagas para condutores com deficiência, observando a condição de que o veículo deve estar adaptado às necessidades do condutor.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A transferência da outorga não é automática e deve seguir a regulamentação municipal, além de ter sido afetada pela declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos que tratavam dessa transferência, pelo STF.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A redistribuição das vagas somente ocorre se não houver candidatos até o final do prazo de preenchimento estabelecido, garantindo, assim, uma adequada continuidade no serviço.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a lei exige que os Municípios fixem previamente os valores máximos das tarifas a serem cobradas, o que é um aspecto essencial da regulamentação do serviço.
Técnica SID: PJA
Inclusão de pessoas com deficiência
A Lei nº 12.587/2012 reconhece a importância da inclusão de pessoas com deficiência no contexto da mobilidade urbana, garantindo-lhes acesso ao serviço de táxi mediante reserva de vagas e exigências de adaptação dos veículos. Esse dispositivo legal assegura condições de igualdade no direito ao trabalho e no exercício da atividade econômica, além de promover o respeito à dignidade e à autonomia das pessoas com deficiência.
A legislação impõe uma obrigação direta ao poder público de reservar uma fração mínima das vagas quando da outorga do serviço de táxi, sendo esta reserva obrigatória e não uma faculdade do ente local. Vamos analisar de modo detalhado o dispositivo literal e explorar suas particularidades e implicações práticas, ponto fundamental para não errar questões em provas de concurso.
Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por cento) das vagas para condutores com deficiência.
Você reparou no uso do termo “reservar-se-ão”? Trata-se de uma ordem legal, ou seja, os municípios são obrigados a separar 10% das vagas disponíveis para condutores com deficiência física. Isso não depende de regulamentação suplementar; é uma determinação direta da Lei Federal.
No contexto do concurso, lembre-se de que “condutor com deficiência” inclui todo aquele que preenche as condições legais e apresenta limitações enquadradas pela legislação vigente. Ainda, a exigência se refere ao momento da outorga, ou seja, quando o município vai conceder o direito de exploração do serviço.
§ 1º Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado:
I – ser de sua propriedade e por ele conduzido; e
II – estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.
A lei vai além: não basta a reserva da vaga, existem exigências quanto ao veículo. O carro deve ser de propriedade do condutor e precisa respeitar as adaptações exigidas pela legislação, conforme a deficiência apresentada. Anote: o carro deve ser, obrigatoriamente, conduzido pelo próprio titular da vaga e adequado às suas limitações.
Imagine um exemplo prático: João é cadeirante e deseja concorrer a uma vaga reservada pelo município para táxi. O veículo de João deve ser dele e, obrigatoriamente, adaptado para a condução por pessoa com deficiência, de acordo com laudos e normas técnicas. Caso o veículo não preencha um desses requisitos, João não poderá utilizar a vaga reservada.
§ 2º No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes.
Outro ponto importante: se as vagas reservadas não forem preenchidas por condutores com deficiência (por falta de candidatos habilitados, por exemplo), essas vagas são liberadas para o restante dos concorrentes. O legislador evita ociosidade de vagas, preservando a eficiência do serviço. Perceba que não se fala em “manter vagas reservadas até que surja interessado”: a regra é de aproveitamento imediato.
Questões de concurso costumam explorar esse detalhe, substituindo, por exemplo, “deverão permanecer vagas reservadas” (errado) por “as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes” (correto, conforme o texto legal). Atenção máxima à redação literal nesse ponto!
Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por cento) das vagas para condutores com deficiência.
§ 1º Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado:
I – ser de sua propriedade e por ele conduzido; e
II – estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.
§ 2º No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes.
Ao estudar esse ponto, treine sua atenção para identificar trocas de expressões, como “deverão” por “poderão”, ou modificações que criam dificuldades de interpretação. Veja como os detalhes fazem diferença: a lei fala em “ser de sua propriedade” e “por ele conduzido”. Mudanças nesses termos, como “poderá ser conduzido por terceiros” ou “veículo de propriedade de terceiro”, tornam a afirmação incorreta frente à literalidade da norma.
Em resumo, a inclusão prevista na Lei nº 12.587/2012, art. 12-B, reflete o compromisso com a igualdade de oportunidades no acesso à mobilidade urbana, sempre desde que atendidos os critérios rigorosos estabelecidos no dispositivo. Cada palavra do texto é chave na hora da prova: dominar o artigo e seus parágrafos, entendendo a lógica da reserva, da adaptação dos veículos e do destino das vagas não preenchidas, é o que diferencia quem realmente absorveu o conteúdo da norma.
Questões: Inclusão de pessoas com deficiência
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 assegura que as vagas reservadas para condutores com deficiência nos serviços de táxi são uma permissão do município e não uma obrigação legal.
- (Questão Inédita – Método SID) Para que um condutor com deficiência possa utilizar as vagas reservadas nos serviços de táxi, é suficiente que o veículo esteja adaptado às suas necessidades, independentemente de ser de sua propriedade.
- (Questão Inédita – Método SID) A legislação garante que, caso as vagas reservadas para condutores com deficiência não sejam preenchidas, essas vagas devem permanecer disponíveis até que surjam interessados.
- (Questão Inédita – Método SID) A inclusão de condutores com deficiência na exploração de serviços de táxi está relacionada com o respeito à dignidade e autonomia, além de garantir acesso igualitário ao trabalho e à atividade econômica.
- (Questão Inédita – Método SID) A reserva de 10% das vagas para condutores com deficiência deve ser aplicada em qualquer momento, sem a necessidade de regulamentação específica, pois é uma determinação da lei.
- (Questão Inédita – Método SID) O termo ‘reservar-se-ão’, utilizado na legislação, implica que os municípios têm liberdade para decidir sobre a reserva de vagas para condutores com deficiência, não havendo uma imposição legal.
Respostas: Inclusão de pessoas com deficiência
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei estabelece uma obrigação direta ao município de reservar 10% das vagas para condutores com deficiência, não se tratando de uma permissão, mas de uma determinação vinculativa. Essa ação reflete um compromisso com a igualdade de oportunidades na mobilidade urbana.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: Para concorrer às vagas reservadas, o condutor deve observar que o veículo utilizado é de sua propriedade e precisa estar adequadamente adaptado às suas necessidades. Ambas as condições são indispensáveis, conforme determinado pela lei.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A norma estabelece que as vagas remanescentes devem ser disponibilizadas para outros concorrentes se não forem preenchidas por condutores com deficiência, evitando a ociosidade. Portanto, as vagas não permanecem reservadas indefinidamente.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 promove a inclusão de pessoas com deficiência, assegurando condições de igualdade no acesso aos serviços de táxi, com o propósito de respeitar a dignidade e promover a autonomia dessas pessoas. Essa inclusão é essencial para o exercício da atividade econômica.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A lei impõe a obrigação de reservar 10% das vagas na outorga de exploração do serviço de táxi, sem necessitar de regulamentação suplementar para sua efetivação. Essa característica torna a norma bastante direta e clara em sua aplicabilidade.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: O termo ‘reservar-se-ão’ expressa uma imposição legal, obrigando os municípios a reservar 10% das vagas para condutores com deficiência, portanto, não é uma questão de liberdade, mas de cumprimento estrito da norma.
Técnica SID: SCP
Direitos dos Usuários e Participação Social (arts. 13 a 15)
Direitos essenciais dos usuários
Ao abordar os direitos dos usuários no Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, é fundamental observar os detalhes trazidos pela Lei nº 12.587/2012, especialmente no art. 14. Este artigo reúne as garantias fundamentais que protegem e asseguram ao cidadão o pleno acesso e utilização qualificada do sistema de transportes urbanos, reforçando a centralidade do usuário na política pública.
Acompanhe a leitura atenta do texto legal, destacando cada direito previsto. A literalidade é essencial para você identificar com precisão todos os direitos garantidos, já que cada item pode ser cobrado isoladamente em provas e pequenas alterações de palavras podem mudar o sentido da questão.
Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:
I – receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II – participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana;
III – ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais; e
IV – ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
O inciso I determina que o usuário tem direito a receber “serviço adequado”, conceito alinhado ao art. 6º da Lei nº 8.987/1995 (Lei das Concessões). Isso significa que o serviço deve atender padrões de eficiência, segurança e regularidade. Em provas, fique atento: o termo “serviço adequado” está ligado, obrigatoriamente, à ideia de atendimento satisfatório das necessidades do usuário, dentro dos parâmetros legais.
No inciso II, destaca-se o direito do cidadão à participação ativa — não apenas como usuário, mas também como agente fiscalizador e planejador da política pública de mobilidade urbana. Essa previsão concretiza a gestão democrática e o controle social tanto no planejamento quanto na avaliação dessas políticas. Observou como a lei busca engajar a sociedade?
O inciso III reforça o dever de informar. Todo usuário tem direito a informações, nos pontos de embarque e desembarque, sobre “itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais”. Isso deve ser feito de modo gratuito e acessível, garantindo a transparência e a autonomia dos passageiros. Imagine a importância disso para uma pessoa com deficiência ou para alguém que utiliza diferentes modais em uma mesma viagem.
O inciso IV reforça a proteção ao usuário, destacando o direito a um ambiente “seguro e acessível”, alinhado com as Leis nº 10.048/2000 (prioridade de atendimento a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo) e nº 10.098/2000 (acessibilidade). Aqui, o foco está na garantia de igualdade material e eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação nos sistemas de transporte.
Outro ponto que merece atenção é a previsão do parágrafo único, que amplia o dever de informação e detalha quais conteúdos obrigatórios devem ser explicados de forma clara ao usuário. Note como a organização do texto facilita a fiscalização de direitos pelo cidadão.
Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre:
I – seus direitos e responsabilidades;
II – os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e
III – os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.
Observe que o parágrafo único traz três obrigações de transparência: o dever de informar sobre os próprios direitos e responsabilidades do usuário; os direitos e obrigações dos operadores do serviço; e sobre os padrões de qualidade e as formas de reclamação. Imagine um painel no terminal de ônibus — não bastam apenas os horários: o usuário precisa saber, de maneira clara, quais são seus direitos, quem deve responder por falhas e como proceder para reclamar.
Numa leitura estratégica para concursos, preste atenção especial à expressão “linguagem acessível e de fácil compreensão”, pois isso impede qualquer omissão ou complexidade desnecessária por parte do operador ou responsável pelo serviço. Além disso, saber como e quando pode realizar reclamações (e os prazos de resposta) empodera o usuário, equilibrando a relação de consumo no transporte coletivo.
- TRC (Técnica de Reconhecimento Conceitual): O direito ao “serviço adequado” e à “informação gratuita e acessível” são termos exatos, extraídos da norma. Cuidado com questões que troquem “todos os pontos de embarque e desembarque” por “alguns pontos”, pois isso altera completamente o sentido legal.
- SCP (Substituição Crítica de Palavras): Note a diferença entre “modos de interação com outros modais” e eventuais trocas como “integração tarifária com outros modais”. Pequenas substituições mudam o foco do direito e podem induzir ao erro.
- PJA (Paráfrase Jurídica Aplicada): Ao se deparar com afirmações como “o usuário tem direito a ser informado apenas sobre horários dos serviços”, questione: a literalidade vai além, abrangendo itinerários, tarifas e modais. A compreensão detalhada do texto impede interpretações limitadas ou incorretas.
Dominar estes dispositivos significa não só estar pronto para responder questões objetivas e discursivas, mas também saber identificar, no cotidiano, situações em que seus direitos estão assegurados ou eventualmente violados. O olhar atento aos detalhes faz toda a diferença para não cair em pegadinhas nem deixar passar um direito importante.
Questões: Direitos essenciais dos usuários
- (Questão Inédita – Método SID) O direito dos usuários de receber um ‘serviço adequado’ está vinculado aos padrões de eficiência, segurança e regularidade dos transportes urbanos, conforme determinado pela legislação vigente.
- (Questão Inédita – Método SID) O cidadão possui o direito de participar do planejamento e avaliação da política de mobilidade urbana, permitindo uma gestão mais democrática dos serviços públicos de transporte.
- (Questão Inédita – Método SID) A obrigação de informar os usuários sobre itinerários e tarifas deve ser cumprida de forma acessível, mas não necessariamente gratuita, segundo a legislação sobre mobilidade urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) O direito a um ambiente seguro e acessível, conforme a regulatória de mobilidade, é garantido através da eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação para todos os usuários.
- (Questão Inédita – Método SID) A informação dada aos usuários sobre seus direitos e responsabilidades deve ser em linguagem técnica e complexa, para garantir o entendimento completo de suas obrigações dentro do sistema de transporte.
- (Questão Inédita – Método SID) O parágrafo único da norma específica que os usuários têm direito a informações sobre os padrões de qualidade dos serviços e os meios para reclamar, detalhando ainda os prazos para respostas.
- (Questão Inédita – Método SID) A satisfação do usuário em relação ao serviço de transporte urbano é irrelevante para a avaliação da qualidade do serviço, conforme as diretrizes da legislação de mobilidade urbana.
Respostas: Direitos essenciais dos usuários
- Gabarito: Certo
Comentário: O direito ao ‘serviço adequado’ é, de fato, fundamentado em parâmetros legais que asseguram a qualidade no transporte, sendo essencial para atender às necessidades do usuário.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: Este direito à participação ativa é um aspecto significativo que fortalece o controle social e a cocriação de políticas que atendam melhor às expectativas e necessidades da população.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A legislação determina expressamente que a informação deve ser gratuita e acessível, assegurando que todos os usuários compreendam seus direitos e opções de transporte.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: Este direito busca promover igualdade de acesso para todos, especialmente para pessoas com deficiência, idosos e gestantes, de acordo com as normas de acessibilidade.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A legislação enfatiza que a informação deve ser em ‘linguagem acessível e de fácil compreensão’, pois isso é crucial para a empoderamento do usuário e para garantir a transparência nas relações de consumo no transporte coletivo.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: Este direito é fundamental para que os cidadãos possam ter conhecimento sobre seus direitos e as obrigações dos operadores, aumentando a transparência e a eficácia na prestação de serviços públicos.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A satisfação do usuário é um critério importante dentro da avaliação da qualidade do serviço, pois um ‘serviço adequado’ deve refletir as necessidades e expectativas dos usuários.
Técnica SID: PJA
Instrumentos de participação da sociedade civil nas políticas de mobilidade
No contexto da política de mobilidade urbana, a participação da sociedade civil se concretiza por meio de instrumentos formais previstos na Lei nº 12.587/2012. Compreender exatamente como essa participação deve acontecer é essencial para evitar pegadinhas em provas e para interpretar corretamente o nível de engajamento exigido do poder público.
O detalhamento legal sobre participação social aparece no art. 15. Preste especial atenção aos instrumentos listados em seus incisos, pois cada um deles pode ser cobrado isoladamente ou comparado com outros instrumentos em questões objetivas.
Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;
II – ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;
III – audiências e consultas públicas; e
IV – procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas.
Veja que a lei não deixa espaço para improvisação: ela exige que haja canais formais de diálogo entre o poder público, a sociedade civil e os operadores dos serviços de mobilidade. Cada um desses instrumentos possibilita um tipo específico de participação e controle por parte da sociedade.
Os órgãos colegiados são espaços institucionalizados, nos quais representantes do governo, usuários e profissionais dos serviços discutem e decidem questões sobre mobilidade. Questões podem explorar a necessidade da presença de todos esses segmentos — repare na literalidade: “representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços”.
As ouvidorias funcionam como pontes para que cidadãos apresentem demandas, críticas ou sugestão sobre a gestão da mobilidade urbana. O artigo prevê tanto ouvidorias dedicadas quanto outros órgãos “com atribuições análogas” — essa ampliação pode ser cobrada em provas nas alternativas que trocam por órgãos genéricos. Atenção para não ser induzido a erro!
As audiências e consultas públicas garantem que decisões relevantes sejam discutidas e fundamentadas em um processo aberto de escuta da população. Mesmo assim, lembre-se: a lei exige a realização desses eventos, não apenas sua previsão formal.
Por fim, os procedimentos sistemáticos de comunicação, avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas vão além de eventos pontuais. Trata-se de rotinas permanentes para coletar opiniões, medir o grau de contentamento da população e divulgar, de maneira transparente, informações e resultados das políticas públicas.
Em todas as situações, o segredo é a atenção à literalidade, principalmente para não confundir instrumentos obrigatórios com meras ações facultativas do poder público. Observe, por exemplo, que a lei traz a palavra “deverá”, reforçando o caráter vinculante desses mecanismos. O comando legal é objetivo e não admite exceções: todos esses instrumentos de participação social devem ser assegurados.
Ao se deparar com questões que alterem, omitam ou criem instrumentos diferentes dos previstos no art. 15, recorra sempre ao texto literal da lei. O sucesso em provas exige reconhecer exatamente o que está expresso nos quatro incisos, sem cair em generalizações ou interpretações abertas.
Questões: Instrumentos de participação da sociedade civil nas políticas de mobilidade
- (Questão Inédita – Método SID) A participação da sociedade civil nas políticas de mobilidade urbana deve ser assegurada por meio de canais formais de diálogo, incluindo órgãos colegiados que reúnem representantes do governo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços.
- (Questão Inédita – Método SID) As audiências e consultas públicas são apenas recomendadas pela lei, mas não precisam ser realizadas pelo poder público na formulação das políticas de mobilidade urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) A função das ouvidorias nas instituições de mobilidade urbana é de garantir que as reclamações e sugestões da sociedade sejam formalmente registradas e analisadas pelas autoridades competentes.
- (Questão Inédita – Método SID) A prática de comunicação e avaliação da satisfação dos cidadãos nas políticas de mobilidade urbana não é considerada um instrumento obrigatório pela Lei nº 12.587/2012.
- (Questão Inédita – Método SID) A participação da sociedade civil nas políticas de mobilidade urbana deve ocorrer sem a necessidade de estrutura formal ou mecanismos específicos, conforme prevê a legislação.
- (Questão Inédita – Método SID) A realização de audiências públicas é um exemplo de um dos instrumentos que compõem a participação social nas políticas de mobilidade, conforme estabelecido na legislação vigente.
Respostas: Instrumentos de participação da sociedade civil nas políticas de mobilidade
- Gabarito: Certo
Comentário: A lei exige explicitamente que a participação da sociedade civil ocorra através de órgãos colegiados que incluam representantes dos três segmentos mencionados, reforçando a necessidade de um diálogo formal e institucionalizado.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 determina que audiências e consultas públicas não são meramente recomendadas, mas sim obrigatórias, com a finalidade de assegurar a participação efetiva da sociedade na elaboração das políticas de mobilidade.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: As ouvidorias desempenham um papel essencial no sistema de mobilidade, funcionando como um canal direto para que a sociedade apresente suas demandas, assegurando que as autoridades respondeam às questões levantadas pelos cidadãos.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei classifica os procedimentos sistemáticos de comunicação e avaliação da satisfação como instrumentos obrigatórios, abrangendo não apenas eventos fortuitos, mas sim uma atividade contínua e formal no processo de gestão de mobilidade urbana.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 é clara ao estabelecer que a participação deve se dar através de instrumentos formais, como os órgãos colegiados, ouvidorias, audiências e procedimentos de comunicação, não deixando espaço para a informalidade.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 reconhece as audiências públicas como mecanismos indispensáveis para promover a participação da sociedade no planejamento e na avaliação das políticas de mobilidade, assegurando a transparência e a escuta ativa da população.
Técnica SID: PJA
Atribuições dos Entes Federativos (arts. 16 a 20)
Atribuições da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
A compreensão das atribuições dos entes federativos é essencial para entender como se estrutura a gestão da mobilidade urbana no Brasil. A Lei nº 12.587/2012 especifica detalhadamente o papel de cada ente: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Fique atento aos termos específicos e ao detalhamento de competências, pois eles podem ser cobrados com nuances em concursos.
A divisão de atribuições evita sobreposições e garante que cada esfera atue conforme suas possibilidades e responsabilidade constitucional. Analise abaixo, com atenção às diferenças e interligações expostas pela literalidade legal.
Art. 16. São atribuições da União:
I – prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos desta Lei;
II – contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei;
III – organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo;
IV – fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas;
V – (VETADO);
VI – fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta Lei; e
VII – prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano.§ 1º A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.
§ 2º A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal.
Veja como a União possui atribuições de âmbito nacional e também de suporte para Estados e Municípios. O fomento tecnológico (inciso VI) e a prestação direta ou delegada do transporte interestadual urbano (inciso VII) são pontos que costumam aparecer em provas. Cuidado com pegadinhas que trocam os entes federativos dessas competências ou omitem o requisito de consórcio em delegações.
O parágrafo 1º destaca ações integradas em regiões metropolitanas e cidades gêmeas de fronteira internacional. Já o parágrafo 2º permite à União delegar a outros entes a prestação do transporte coletivo interestadual/internacional, desde que haja consórcio público ou convênio de cooperação, sempre respeitando o art. 178 da CF/88.
Art. 17. São atribuições dos Estados:
I – prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal;
II – propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; e
III – garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3o do art. 25 da Constituição Federal.Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim.
Note que os Estados têm foco principal nos serviços intermunicipais urbanos: atender, gerir e integrar o transporte que ultrapassa o território de um só Município. Fique atento às palavras “diretamente ou por delegação ou gestão associada” (inciso I), que ampliam as formas possíveis de atuação estadual. O parágrafo único permite a delegação aos Municípios, mas condicionada à formação de consórcio público ou convênio – uma cobrança comum em questões objetivas.
Art. 18. São atribuições dos Municípios:
I – planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;
II – prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;
III – capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município; e
IV – (VETADO).
O Município é o ente mais próximo do cidadão e suas atribuições refletem essa proximidade com a realidade local. O planejamento, execução e avaliação das políticas de mobilidade urbana são funções centrais, assim como a prestação dos serviços públicos coletivos urbanos, classificados expressamente como de “caráter essencial”. Repare na expressão “direta, indiretamente ou por gestão associada”, abrangendo diferentes modelos de prestação do serviço. A capacitação de pessoas e desenvolvimento institucional (inciso III) reforçam o papel de aprimoramento local.
Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas para os Estados e os Municípios, nos termos dos arts. 17 e 18.
No caso do Distrito Federal, a lei evita criar um rol separado de competências. O dispositivo é claro: o DF acumula todas as atribuições dos Estados e dos Municípios, conforme disposto nos artigos 17 e 18. Essa informação é fundamental para não errar questões que busquem diferenciar o DF dos demais entes.
Art. 20. O exercício das atribuições previstas neste Capítulo subordinar-se-á, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Este artigo reforça um limite orçamentário fundamental para qualquer atuação pública. Nenhuma das atribuições dos entes federativos pode ser compreendida fora do contexto das leis orçamentárias de cada esfera e, principalmente, dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Atenção às palavras “normas fixadas”, “disponibilidades” e “imperativos”. Trata-se de uma limitação expressa, recorrente em provas práticas e objetivas.
Observe como a literalidade da lei detalha os papéis e os condiciona à realidade financeira, impedindo avanços que possam comprometer o equilíbrio fiscal do ente.
Questões: Atribuições da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
- (Questão Inédita – Método SID) A União tem a atribuição de organizar e gerir serviços de transporte público coletivo em caráter interestadual de forma exclusiva, sem possibilidade de delegação a outros entes federativos.
- (Questão Inédita – Método SID) Os Estados são responsáveis por planejar e executar políticas de mobilidade urbana, focando principalmente na integração do transporte coletivo intermunicipal.
- (Questão Inédita – Método SID) O Distrito Federal acumula todas as atribuições que são conferidas aos Municípios e Estados, sem a necessidade de estabelecer uma jurisdição própria ou diferenciada.
- (Questão Inédita – Método SID) Os Municípios são competentes para planejar e assegurar serviços de transporte coletivo urbano, que são considerados secundários em relação a outras políticas de mobilidade.
- (Questão Inédita – Método SID) Os Estados estão impedidos de delegar a organização de serviços de transporte público coletivo intermunicipal aos Municípios, independentemente da formação de consórcios públicos.
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 estabelece que o exercício das atribuições por parte dos entes federativos deve observar limitações orçamentárias, garantindo o equilíbrio fiscal em suas ações.
Respostas: Atribuições da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
- Gabarito: Errado
Comentário: A União pode prestar serviços de transporte público interestadual diretamente ou por delegação, desde que constituído consórcio público ou convênio. A atribuição não é exclusiva, pois permite a participação de outros entes federativos.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: De fato, os Estados têm a atribuição de organizar e prestar serviços de transporte público coletivo intermunicipal, além de promover a integração desses serviços. Essa função é central à política de mobilidade urbana estadual.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: O Distrito Federal realmente possui as mesmas atribuições dos Estados e Municípios, conforme os artigos pertinentes da legislação, e não requer uma estrutura de competências separadas.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: Os serviços de transporte público coletivo urbano são classificados como de caráter essencial, o que é fundamental para o desenvolvimento das políticas de mobilidade. Portanto, essa atribuição é primária e não secundária.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: Na verdade, os Estados podem delegar essa organização aos Municípios, desde que sejam constituídos consórcios públicos ou convênios de cooperação. Essa possibilidade é um aspecto importante da lei.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: Isso é correto. As atribuições dos entes federativos estão subordinadas às normas das leis de diretrizes orçamentárias e devem respeitar as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando que não comprometam o equilíbrio fiscal.
Técnica SID: SCP
Regras para delegação de competências
Compreender as regras para delegação de competências na Política Nacional de Mobilidade Urbana é essencial para evitar pegadinhas em provas. Cada ente federativo — União, Estados, Municípios e Distrito Federal — possui atribuições específicas, bem como possibilidades e limites para delegação, sempre ancorados nos dispositivos literais dos artigos 16 a 20 da Lei nº 12.587/2012.
Observe que a delegação só pode ocorrer nas condições previstas e, quando há menção expressa a consórcio público ou convênio de cooperação, isso deve ser respeitado integralmente. Mudanças sutis, como a ausência desses requisitos em uma questão de concurso, podem invalidar a alternativa — fique atento à literalidade.
Art. 16. São atribuições da União:
I – prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos desta Lei;
II – contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei;
III – organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo;
IV – fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas;
V – (VETADO);
VI – fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta Lei; e
VII – prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano.
§ 1º A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.
§ 2º A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal.
Os destaques quanto à delegação de competências aparecem já neste artigo: a União pode delegar aos Estados, Distrito Federal e Municípios a organização e prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter urbano. No entanto, a delegação só será válida se houver consórcio público ou convênio de cooperação.
Na leitura do § 2º, atente-se para o termo “poderá delegar”, que indica uma faculdade, não uma obrigação. Somente será possível a delegação “desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação”. A ausência dessa formalização torna a delegação inválida — um detalhe frequentemente explorado em bancas.
Art. 17. São atribuições dos Estados:
I – prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal;
II – propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; e
III – garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3o do art. 25 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim.
Aqui, os Estados recebem a competência de prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano. A delegação dessa responsabilidade aos Municípios é permitida, mas há um requisito explícito: só será possível se houver consórcio público ou convênio de cooperação. Não basta a vontade política; a formalidade é requisito indispensável. Esse aspecto é ponto sensível e recorrente em concursos, justamente por ser facilmente confundido com uma delegação livre.
Art. 18. São atribuições dos Municípios:
I – planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;
II – prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;
III – capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município; e
IV – (VETADO).
No caso dos Municípios, o artigo ressalta a competência para planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, além de prestar serviços de transporte público coletivo, seja diretamente, indiretamente ou por gestão associada. Repare que não há previsão de delegação da organização ou prestação do transporte público coletivo urbano para outros entes. Mutatis mutandis, quando a lei autoriza explicitamente a delegação, ela o faz — onde não há, não se presume.
Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas para os Estados e os Municípios, nos termos dos arts. 17 e 18.
O Distrito Federal reúne atribuições dos Estados e Municípios, devendo observar as regras de delegação impostas a cada âmbito. Atenção à expressão “no que couber”: nem todas as atribuições se aplicam integralmente, dependerá do contexto federativo do DF. Em caso de delegação, o Distrito Federal deve respeitar as mesmas condições exigidas aos Estados e Municípios, inclusive quanto à necessidade de consórcio público ou convênio de cooperação, conforme o caso.
Art. 20. O exercício das atribuições previstas neste Capítulo subordinar-se-á, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Outro ponto importante é a dependência orçamentária e o respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que haja autorização para delegação de competências, ela só será válida se as condições orçamentárias permitirem. O artigo 20 reforça que o exercício de qualquer atribuição, inclusive as delegadas, está subordinado à existência de previsão nas leis de diretrizes orçamentárias e às disponibilidades orçamentárias anuais do ente federativo correspondente.
Bancas costumam testar se o candidato detecta essa limitação: mesmo onde a delegação é admitida, ela não pode ser feita se não houver respaldo financeiro e orçamentário. Palavras como “desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação” e “subordinar-se-á às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias” são fundamentais para fundamentar acertos em provas, especialmente nos julgamentos do tipo certo/errado.
Questões: Regras para delegação de competências
- (Questão Inédita – Método SID) A delegação de competências na Política Nacional de Mobilidade Urbana é uma obrigação da União em todas as situações, independentemente da formalização de consórcios públicos ou convênios de cooperação.
- (Questão Inédita – Método SID) Os Estados têm a competência para delegar aos Municípios a organização e prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, mas esta delegação não requer a formação de consórcios públicos ou convênios.
- (Questão Inédita – Método SID) O Distrito Federal, ao exercer atribuições semelhantes às dos Estados e Municípios, pode ignorar as especificidades da legislação que exige consórcios ou convênios para a delegação de competências.
- (Questão Inédita – Método SID) A Política Nacional de Mobilidade Urbana permite que os Municípios deleguem a organização e prestação de serviços de transporte público coletivo a outros entes federativos.
- (Questão Inédita – Método SID) Mesmo quando há autorização para a delegação de competências, esta deve sempre respeitar as diretrizes orçamentárias e as disponibilidades financeiras dos entes federativos.
- (Questão Inédita – Método SID) A delegação de serviços de transporte público pode ser validamente realizada sem a formação de consórcios, desde que haja uma resolução interna que autorize a mudança.
Respostas: Regras para delegação de competências
- Gabarito: Errado
Comentário: A delegação de competências pela União é uma faculdade, não uma obrigação, e somente pode ocorrer se houver a formalização de consórcio público ou convênio de cooperação, conforme previsto na legislação. Sem essa formalização, a delegação se torna inválida.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A delegação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal para Municípios pelos Estados só é válida se houver a formação de consórcio público ou convênio de cooperação. Este requisito é essencial e não pode ser ignorado.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: O Distrito Federal deve respeitar as regras de delegação que se aplicam aos Estados e Municípios, incluindo a necessidade de consórcios públicos ou convênios de cooperação conforme o caso. Essa observância é crucial para a validade da delegação.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: Os Municípios têm autonomia para planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, mas não há previsão legal para a delegação da organização ou prestação do transporte público coletivo para outros entes. A delegação deve ser explicitamente autorizada na legislação.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: O exercício das atribuições, incluindo as delegadas, deve estar subordinado às normas fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e ter respaldo nas leis orçamentárias anuais do respectivo ente federativo, garantindo que a delegação não ocorra sem as devidas condições financeiras.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A legislação exige que a delegação de serviços de transporte público coletivo interestadual ou internacional de caráter urbano seja feita com a constituição de consórcio público ou convênio de cooperação, e não pode ser simplificada por uma resolução interna. A formalização é essencial para a validade da delegação.
Técnica SID: SCP
Planejamento e Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana (arts. 21 a 24)
Critérios de planejamento e gestão
O planejamento e a gestão dos sistemas de mobilidade urbana são norteados por regras detalhadas na Lei nº 12.587/2012. Essa estruturação garante que os gestores públicos atuem de maneira transparente e eficiente, sempre focados em metas que beneficiem a coletividade. Cada critério presente nos dispositivos a seguir orienta não só o início de projetos, mas também sua manutenção, avaliação e aprimoramento contínuo. É aqui que o concurseiro deve desenvolver a leitura estratégica: cada palavra sinaliza um dever, uma obrigação ou uma meta.
Acompanhe, na literalidade do texto legal, exatamente o que deve ser contemplado no planejamento, gestão e avaliação dos sistemas de mobilidade urbana. Atenção redobrada aos detalhes dos incisos: muitos são cobrados individualmente em provas, e pequenas alterações podem mudar totalmente o sentido.
Art. 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar:
I – a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo;
II – a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução;
III – a formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e
IV – a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos.
Perceba que o artigo 21 detalha quatro pontos essenciais. O primeiro é a transparência: definir claramente o que se busca atingir, em diferentes horizontes de tempo, evita improvisos e desvios na gestão. O segundo exige que quem planeja saiba, desde o início, de onde virão os recursos e quais órgãos atuarão juntos — ignorar esse aspecto pode comprometer toda a execução. Já o terceiro ponto exige monitorar e avaliar, de forma contínua, se as metas estão de fato sendo cumpridas. O último inciso aborda a universalização do transporte público de qualidade, sempre com indicadores bem definidos (números, metas, prazos), para que nada fique vago.
No estudo para concursos, não se esqueça: qualquer questão que omita um desses elementos ou altere sua ordem pode induzir o erro. O comando de “clara e transparente”, por exemplo, muitas vezes é trocado por termos mais genéricos em provas — e isso pode invalidar a alternativa.
Os órgãos responsáveis pela gestão de mobilidade urbana também têm funções específicas. Esses deveres garantem que planejamento e fiscalização saiam do papel para a prática, observando sempre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Art. 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana:
I – planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios e diretrizes desta Lei;
II – avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade;
III – implantar a política tarifária;
IV – dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços;
V – estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo;
VI – garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários; e
VII – combater o transporte ilegal de passageiros.
Observe quantos detalhes para cada atribuição! O planejamento não está restrito ao papel: espera-se atuação na coordenação prática dos modos e serviços (I). O órgão deve fiscalizar, garantir que metas de qualidade e universalização estão sendo perseguidas (II). E mais: implantar a política tarifária (III) — o que significa decidir como e quanto será cobrado pelo serviço, sempre em sintonia com os objetivos da Lei.
A atribuição de “dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade” (IV) é uma responsabilidade que acompanha a oferta no dia a dia. Já no inciso V, estimular eficácia e eficiência significa buscar resultados melhores, com menos desperdício e mais resultado para a população. No VI, garantir direitos e observar responsabilidades dos usuários aborda tanto o correto atendimento ao cidadão quanto o cumprimento das obrigações desses usuários. Por fim, o combate ao transporte ilegal (VII) é ação direta para proteger o sistema, a segurança e o interesse público.
Se em um exame objetivo aparecer a ideia de que os órgãos gestores “apenas planejam e não executam”, atente: é incorreta, pois a lei exige atuação completa — do planejamento à ação concreta. Entender essa diferença separa o candidato que lê superficialmente daquele que domina a literalidade.
Na sequência, a lei apresenta instrumentos específicos para a gestão do sistema de transporte e mobilidade. Repare como cada item do artigo 23 detalha medidas práticas e permite diferentes estratégias de gestão, sempre com objetivo de ordenar, restringir quando necessário e aprimorar continuamente os serviços.
Art. 23. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes:
I – restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
II – estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle;
III – aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;
IV – dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;
V – estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI – controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;
VII – monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição;
VIII – convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e
IX – convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.
Você percebe a amplitude? Os entes federativos podem restringir o acesso de veículos motorizados, especialmente para combater congestionamentos ou poluição (I e II). Ao estipular padrões de emissão (II e VII), a lei reforça compromisso ambiental, inclusive com possibilidade de limitar acesso em função da poluição. O artigo também prevê aplicações de tributos para financiar exclusivamente o transporte público ou não motorizado (III) — um detalhe que muitas vezes é cobrado trocando-se a destinação dos recursos, cuidado com pegadinhas!
A instituição de áreas exclusivas para ônibus e bicicletas (IV), a definição da política de estacionamentos (V) e o controle das cargas (VI) consolidam ferramentas para ordenar e melhorar a distribuição do espaço urbano. Por último, os convênios (VIII e IX) fortalecem a cooperação entre entes federativos — inclusive em áreas de fronteira, especialmente as cidades gêmeas.
Agora, atenção ao ponto central do planejamento: o Plano de Mobilidade Urbana. Ele é o principal instrumento de efetivação da Política Nacional, concentrando todas as diretrizes, objetivos e princípios previstos na lei. Nos concursos, é preciso dominar cada item exigido em sua elaboração — não apenas o conteúdo, mas também os prazos, condições e focos específicos que variam de acordo com o porte do município.
Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:
I – os serviços de transporte público coletivo;
II – a circulação viária;
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas;
IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
V – a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;
VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;
VII – os polos geradores de viagens;
VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;
IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.
Só será válido o Plano de Mobilidade Urbana que abordar cada um dos itens acima, sem exceção. Domine essas exigências, pois qualquer questão pode isolar um desses tópicos e perguntar se ele “é obrigatório” ou “opcional”. Observe a inclusão destacada de ciclovias e ciclofaixas (III), bem como a necessidade de revisão periódica do plano (XI) — detalhes que com frequência são omitidos ou trocados nas alternativas das provas.
Os parágrafos do artigo 24 tratam de regras específicas para elaboração e aprovação do plano. Detalhe importantíssimo: há casos em que a elaboração do Plano é obrigatória — não esqueça dos prazos e critérios para municípios de diferentes tamanhos e características. Todas essas informações podem ser cobradas em aspectos objetivos ou casos práticos em avaliação.
§ 1º Ficam obrigados a elaborar e a aprovar Plano de Mobilidade Urbana os Municípios:
I – com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes;
III – integrantes de áreas de interesse turístico, incluídas cidades litorâneas que têm sua dinâmica de mobilidade normalmente alterada nos finais de semana, feriados e períodos de férias, em função do aporte de turistas, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
Nunca confunda: o critério não é só populacional, mas também relacionado à posição do município em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou áreas turísticas. Cada um desses requisitos tem impacto direto na demanda e no modelo do Plano.
§ 1º-A. O Plano de Mobilidade Urbana deve ser integrado e compatível com os respectivos planos diretores e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana.
Pense em um cenário onde o município já tem plano diretor: o Plano de Mobilidade Urbana deve ser compatível (e nunca contraditório) a ele. Eventuais incompatibilidades podem anular políticas ou gerar irregularidades — ponto importante para provas discursivas ou questões de análise prática.
§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.
Nem todo município tem ônibus ou transporte individual regulamentado, mas isso não elimina a obrigação de planejar a mobilidade. Nessas situações, ciclovias, ciclofaixas, calçadas e acessibilidade ganham prioridade máxima, voltando o foco às necessidades reais da população local.
§ 4º O Plano de Mobilidade Urbana deve ser elaborado e aprovado nos seguintes prazos:
I – até 12 de abril de 2024, para Municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes;
II – até 12 de abril de 2025, para Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes.
Memorize essas datas: costumam ser cobradas em pegadinhas, invertendo anos ou quantidades populacionais. O domínio desses prazos demonstra atenção à literalidade da lei — quem acerta esses detalhes se destaca nas provas.
§ 5º O Plano de Mobilidade Urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender aos núcleos urbanos informais consolidados, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
Incluir os chamados “núcleos urbanos informais” significa planejar para áreas já ocupadas informalmente, mas que passaram a ser reconhecidas legalmente. Medidas voltadas para esses grupos muitas vezes são esquecidas por gestores, mas aqui têm previsão obrigatória.
§ 7º A aprovação do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios, nos termos do § 4º deste artigo, será informada à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional.
A divulgação da aprovação do plano não é mero detalhe burocrático: serve para controle federal e acompanhamento da efetividade da política nacional. Atenção ao órgão correto — pode ser trocado em questões objetivas.
§ 8º Encerrado o prazo estabelecido no § 4º deste artigo, os Municípios que não tenham aprovado o Plano de Mobilidade Urbana apenas poderão solicitar e receber recursos federais destinados à mobilidade urbana caso sejam utilizados para a elaboração do próprio plano.
Esse parágrafo estabelece uma espécie de “condição de acesso”: não aprovou o Plano de Mobilidade Urbana dentro do prazo? Só poderá receber recursos federais para elaborar o próprio plano, não para executar obras ou projetos. Fundamental entender a consequência prática dessa restrição.
§ 9º O órgão responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá publicar a relação dos Municípios que deverão cumprir o disposto no § 1º deste artigo.
Essa publicação reforça a transparência, permitindo que a sociedade acompanhe a regularização dos municípios e pressione por melhores práticas em mobilidade urbana.
Questões: Critérios de planejamento e gestão
- (Questão Inédita – Método SID) O planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana devem ser orientados por critérios que asseguram transparência e eficiência, visando sempre a coletividade. Isso significa que o gestor deve identificar claramente os objetivos a curto, médio e longo prazo, além de recursos para sua execução.
- (Questão Inédita – Método SID) A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo deve ser monitorada por indicadores que são preestabelecidos no planejamento dos sistemas de mobilidade urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) Os órgãos responsáveis pela gestão de mobilidade urbana têm como atribuição somente o monitoramento do transporte público, não sendo necessário o planejamento de infraestrutura viária.
- (Questão Inédita – Método SID) A utilização de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pode ser uma estratégia de gestão para desestimular o uso de certos modos de transporte, contribuindo assim para a melhoria da infraestrutura urbana destinada ao transporte público.
- (Questão Inédita – Método SID) O Plano de Mobilidade Urbana é uma ferramenta que deve contemplar a acessibilidade para pessoas com deficiência, mas não é necessário que ele inclua a integração com os modos de transporte não motorizados.
- (Questão Inédita – Método SID) Os municípios com mais de 20.000 habitantes são obrigados a elaborar e aprovar o Plano de Mobilidade Urbana até 12 de abril de 2024, independentemente de outros fatores como participação em regiões metropolitanas.
Respostas: Critérios de planejamento e gestão
- Gabarito: Certo
Comentário: O enunciado reflete com precisão o que a legislação estabelece sobre a necessidade de definir objetivos claros e contar com recursos para assegurar a execução do planejamento urbano. Essa abordagem favorece a transparência e a eficiência na gestão.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A questão está correta, pois a legislação exige que as metas de universalização do transporte público sejam acompanhadas por indicadores claros, garantindo assim a efetividade do planejamento e a prestação de contas.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é incorreta, já que a legislação deixa claro que os órgãos gestores devem planejar, coordenar e fiscalizar todos os modos e serviços de mobilidade urbana, incluindo a infraestrutura necessária para sua execução.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois a lei permite que tributos sejam aplicados sobre modos de transporte com o objetivo de restringir ou desestimular o uso de veículos, direcionando os recursos para o transporte coletivo e não motorizado.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A questão é incorreta, uma vez que a legislação exige que o Plano de Mobilidade Urbana inclua tanto a acessibilidade como a integração de todos os modos de transporte, incluindo os não motorizados, garantindo assim uma mobilidade mais inclusiva.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é errada, pois a obrigatoriedade de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana não depende apenas do número de habitantes, mas também de outros critérios como a localização em regiões metropolitanas ou áreas turísticas, entre outros.
Técnica SID: SCP
Elaboração e obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana
O Plano de Mobilidade Urbana é o principal instrumento para que municípios possam planejar, organizar e executar ações que garantam a eficiência do deslocamento de pessoas e cargas. Ele deve guardar absoluta sintonia com os princípios, os objetivos e as diretrizes previstas na Lei nº 12.587/2012. Fique atento: o legislador detalhou de forma minuciosa o que deve constar nesse plano, colocando expressamente serviços, estruturas e mecanismos que não podem ser ignorados pelos gestores públicos.
A literalidade do artigo 24 deve ser estudada ponto a ponto, pois cada inciso e parágrafo aponta obrigações específicas para os municípios, incluindo prazos, abrangência e até restrições caso esses planos não sejam elaborados no tempo previsto. O texto normativo deixa claro também quais municípios estão obrigados, como será a integração com outros planos e quais consequências o descumprimento pode trazer.
Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:
I – os serviços de transporte público coletivo;
II – a circulação viária;
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas;
IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
V – a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;
VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;
VII – os polos geradores de viagens;
VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;
IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.
Ao listar, de forma expressa, onze itens indispensáveis no Plano de Mobilidade Urbana, a lei demonstra a preocupação com um planejamento justo e eficiente. Repare como a acessibilidade está destacada (inciso IV), obrigando o gestor a pensar em pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
O inciso III reforça que as infraestruturas devem incluir ciclovias e ciclofaixas, e não apenas vias tradicionais. Isso abre espaço para políticas de incentivo ao transporte não motorizado, alinhando-se à tendência mundial pela sustentabilidade. Outro ponto sensível: o plano deve prever avaliação, revisão e atualização em prazo máximo de 10 anos (inciso XI). Ou seja, não pode ser um documento estático.
§ 1º Ficam obrigados a elaborar e a aprovar Plano de Mobilidade Urbana os Municípios:
I – com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes;
III – integrantes de áreas de interesse turístico, incluídas cidades litorâneas que têm sua dinâmica de mobilidade normalmente alterada nos finais de semana, feriados e períodos de férias, em função do aporte de turistas, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
Nesse dispositivo, você percebe claramente quais municípios estão legalmente obrigados a elaborar e aprovar seu plano: todos com mais de 20 mil habitantes; os que fazem parte de grandes regiões metropolitanas e aglomerações acima de 1 milhão de habitantes; e aqueles situados em áreas de interesse turístico, incluindo cidades com fluxo sazonal, como litorâneas. Não basta estar em uma dessas situações – a obrigatoriedade é inequívoca.
§ 1º-A. O Plano de Mobilidade Urbana deve ser integrado e compatível com os respectivos planos diretores e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana.
O parágrafo 1º-A determina que o plano de mobilidade deve ser compatível com outros planejamentos urbanísticos do município ou região. Isso evita conflito entre diretrizes e aponta para a necessidade de gestão integrada. Imagine um município com um plano diretor que permita expansão urbana sem considerar novas rotas de transporte coletivo – isso seria um erro, pois a lei exige compatibilidade e integração de estratégias.
§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.
O legislador previu a realidade de cidades pequenas, onde não há transporte coletivo ou individual organizado. Nestes casos, o foco do plano deve ser o transporte não motorizado e a infraestrutura para deslocamentos a pé ou de bicicleta. Estatísticas de concursos frequentemente cobram este detalhe, testando se o candidato lembra que, mesmo sem ônibus ou táxi, é obrigatório planejar trajetos seguros e acessíveis para todos.
§ 4º O Plano de Mobilidade Urbana deve ser elaborado e aprovado nos seguintes prazos:
I – até 12 de abril de 2024, para Municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes; e
II – até 12 de abril de 2025, para Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes.
A legislação traz prazos específicos, que são frequentemente cobrados em questões objetivas: municípios maiores (mais de 250 mil habitantes) têm prazo até 12 de abril de 2024; municípios menores (até 250 mil habitantes), até 12 de abril de 2025. Atenção: esses limites são fatais para muitos candidatos em provas de múltipla escolha.
§ 5º O Plano de Mobilidade Urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender aos núcleos urbanos informais consolidados, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
Outro aspecto fundamental é a obrigatoriedade de incluir, no plano, medidas específicas para núcleos urbanos informais consolidados, tais como favelas ou comunidades que já são realidade e abrigam população significativa. A legislação exige atenção redobrada a estes espaços, garantindo que não sejam ignorados no planejamento urbano.
§ 7º A aprovação do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios, nos termos do § 4º deste artigo, será informada à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Depois de aprovar o plano no prazo estabelecido, o município deve comunicar essa aprovação à Secretaria Nacional competente. Esse procedimento confere transparência e acompanhamento nacional do cumprimento da lei, permitindo controle e apoio federais para aprimorar as políticas de mobilidade.
§ 8º Encerrado o prazo estabelecido no § 4º deste artigo, os Municípios que não tenham aprovado o Plano de Mobilidade Urbana apenas poderão solicitar e receber recursos federais destinados à mobilidade urbana caso sejam utilizados para a elaboração do próprio plano.
Este parágrafo é decisivo: caso o município não tenha aprovado o plano no tempo legal, não pode acessar recursos federais para mobilidade, exceto para a elaboração do próprio plano. Perceba como a norma atinge diretamente a gestão local, condicionando recursos à existência do plano e impedindo repasses para obras ou ações enquanto não houver regularidade.
§ 9º O órgão responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá publicar a relação dos Municípios que deverão cumprir o disposto no § 1º deste artigo.
O legislador exige que o órgão federal publique a lista dos municípios obrigados a elaborar o plano, reforçando a transparência e facilitando a fiscalização social e institucional. O candidato atento deve perceber que essa lista oficializa, nacionalmente, quem deve cumprir a obrigação, fornecendo base para fiscalização por parte da sociedade, de órgãos de controle e até dos próprios moradores.
Repare como a literalidade detalhada nos parágrafos e incisos da lei cria critérios rigorosos, prazos objetivos e mecanismos de controle. É vital para o candidato manter atenção especial a cada termo, quantidade e prazo expressos, evitando armadilhas comuns em provas de concursos públicos sobre mobilidade urbana.
Questões: Elaboração e obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana
- (Questão Inédita – Método SID) O Plano de Mobilidade Urbana é fundamental para a efetividade da Política Nacional de Mobilidade Urbana, devendo incluir a acessibilidade como um aspecto central, considerando as necessidades de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade.
- (Questão Inédita – Método SID) Municípios com menos de 20.000 habitantes estão isentos da obrigatoriedade de elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, independentemente das características de seu transporte coletivo.
- (Questão Inédita – Método SID) O Plano de Mobilidade Urbana deve ser elaborado de forma isolada, sem necessidade de integração com outros planos diretores ou de transporte existentes, para garantir sua efetividade.
- (Questão Inédita – Método SID) O prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana para municípios com mais de 250.000 habitantes é até 12 de abril de 2024, conforme estabelecido pela legislação vigente.
- (Questão Inédita – Método SID) A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pode ser um documento permanente, sem a necessidade de avaliações ou revisões periódicas, conforme a legislação.
- (Questão Inédita – Método SID) Os municípios que não aprovaram o Plano de Mobilidade Urbana no prazo estabelecido podem solicitar recursos federais, exceto se forem destinados à elaboração do plano.
Respostas: Elaboração e obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana
- Gabarito: Certo
Comentário: O Plano deve, de fato, atender às necessidades de acessibilidade, garantindo que a mobilidade urbana seja inclusiva e atenda a todos os cidadãos, conforme estabelecido pela lei.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A obrigatoriedade se aplica aos municípios com mais de 20.000 habitantes, além de outros critérios, deixando claro que mesmo municípios pequenos têm responsabilidade em certas situações.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei exige que o Plano de Mobilidade seja integrado com outros planos, evitando conflitos e promovendo uma gestão urbana coerente e eficiente.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: O prazo está claramente definido, e os municípios que não cumprirem essa obrigação poderão enfrentar restrições quanto ao acesso a recursos federais.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A norma estipula que o plano deve ser avaliado e atualizado a cada 10 anos, assegurando que esteja sempre em consonância com as demandas urbanas e de mobilidade.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: De fato, a norma determina que apenas poderão requerer recursos destinados à elaboração do plano, restringindo o acesso a outras fontes enquanto não forem adequadamente regularizados.
Técnica SID: PJA
Regras específicas para municípios
O planejamento e a gestão dos sistemas de mobilidade urbana atribuem papéis fundamentais aos municípios, conferindo-lhes uma série de responsabilidades que exigem leitura atenta para não confundir limites, prazos e obrigações. Decifrar cada detalhe é essencial, pois as provas exploram a literalidade das regras, especialmente quanto ao conteúdo dos planos de mobilidade urbana, sua obrigatoriedade e prazos de elaboração.
Os municípios, dependendo do seu porte populacional ou de características específicas, possuem exigências determinadas em lei. Acompanhe as normas e observe com rigor os artigos, incisos e prazos mencionados. As palavras empregadas pelo legislador não admitem interpretações vagas: cada termo tem relevância para a compreensão daquilo que será cobrado dos municípios e de seus gestores.
Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:
I – os serviços de transporte público coletivo;
II – a circulação viária;
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas;
IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
V – a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;
VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;
VII – os polos geradores de viagens;
VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;
IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.
O texto acima mostra a amplitude do Plano de Mobilidade Urbana: ele não se restringe ao transporte coletivo, mas alcança aspectos como circulação viária, acessibilidade, integração entre diferentes modos, disciplina do transporte de cargas, gestão de estacionamentos e revisões periódicas. Candidatos devem memorizar cada item listado nos incisos, pois são temas frequentes em questões objetivas e discursivas.
§ 1º Ficam obrigados a elaborar e a aprovar Plano de Mobilidade Urbana os Municípios:
I – com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes;
III – integrantes de áreas de interesse turístico, incluídas cidades litorâneas que têm sua dinâmica de mobilidade normalmente alterada nos finais de semana, feriados e períodos de férias, em função do aporte de turistas, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
Preste muita atenção ao texto desse parágrafo: a obrigatoriedade do plano alcança três grupos de municípios. Anote bem esses critérios, pois bancas costumam exigir sua memorização literal, às vezes trocando a ordem ou confundindo valores populacionais.
§ 1º-A. O Plano de Mobilidade Urbana deve ser integrado e compatível com os respectivos planos diretores e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana.
Esse trecho evidencia a necessidade de alinhamento entre o Plano de Mobilidade Urbana e outros instrumentos de planejamento municipal e regional. A palavra “integrado” significa que os planos não devem ser elaborados isoladamente. Observe como a compatibilidade é tratada como elemento obrigatório.
§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.
Essa regra fixa uma diferenciação importante: municípios sem sistema de transporte público não estão dispensados do plano, mas devem dar ênfase aos deslocamentos não motorizados, como andar a pé ou de bicicleta, e à correspondente infraestrutura. Em provas, fique atento para não marcar equivocadamente que pequenos municípios estão isentos da obrigação.
§ 4º O Plano de Mobilidade Urbana deve ser elaborado e aprovado nos seguintes prazos:
I – até 12 de abril de 2024, para Municípios com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes; e
II – até 12 de abril de 2025, para Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes.
Muita cautela na leitura dos prazos! Eles variam conforme o tamanho do município: os maiores (acima de 250 mil habitantes) têm prazo até 12 de abril de 2024; os menores, até 12 de abril de 2025. Questões de concurso frequentemente tentam confundir essas datas e limites populacionais.
§ 5º O Plano de Mobilidade Urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender aos núcleos urbanos informais consolidados, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
É obrigatória a inclusão de medidas voltadas aos chamados núcleos urbanos informais consolidados. Isso demonstra a preocupação do legislador com áreas que, muitas vezes, apresentam maiores desafios em termos de acessibilidade e mobilidade. O aluno deve memorizar essa exigência expressa.
§ 7º A aprovação do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios, nos termos do § 4º deste artigo, será informada à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Após a aprovação do plano, os municípios precisam comunicar oficialmente à Secretaria Nacional, reforçando o controle e monitoramento por parte do Governo Federal. Essa formalidade é frequentemente apontada em avaliações práticas de políticas públicas.
§ 8º Encerrado o prazo estabelecido no § 4º deste artigo, os Municípios que não tenham aprovado o Plano de Mobilidade Urbana apenas poderão solicitar e receber recursos federais destinados à mobilidade urbana caso sejam utilizados para a elaboração do próprio plano.
Uma verdadeira sanção administrativa: Municípios fora do prazo só recebem recursos federais se forem para fazer o plano. Essa regra limita o acesso a verbas da União, servindo como mecanismo de incentivo à regularização. Ao estudar, destaque essa restrição para não se confundir com outros dispositivos.
§ 9º O órgão responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá publicar a relação dos Municípios que deverão cumprir o disposto no § 1º deste artigo.
A divulgação da lista dos municípios obrigados a elaborar o plano tem caráter de transparência e fiscaliza o cumprimento da lei. O candidato deve saber identificar essa obrigação da autoridade nacional como mais uma camada de controle sobre os entes locais.
Questões: Regras específicas para municípios
- (Questão Inédita – Método SID) O Plano de Mobilidade Urbana é um documento que visa exclusivamente a organização do transporte público coletivo, desconsiderando outros aspectos como a circulação viária e a acessibilidade para pessoas com deficiência.
- (Questão Inédita – Método SID) Municípios com menos de 250.000 habitantes têm até 12 de abril de 2025 para aprovar seu Plano de Mobilidade Urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) A obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana se aplica apenas aos municípios com mais de 1.000.000 de habitantes ou aqueles que fazem parte de regiões metropolitanas.
- (Questão Inédita – Método SID) Municípios que não possuem sistema de transporte público devem focar a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana em soluções de mobilidade não motorizada, orientando-se para a infraestrutura urbana que favorece deslocamentos a pé e por bicicleta.
- (Questão Inédita – Método SID) O prazo para que municípios com mais de 250.000 habitantes aprovem seu Plano de Mobilidade Urbana se encerrará antes do prazo estabelecido para municípios menores.
- (Questão Inédita – Método SID) Após a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana, os municípios devem informar a Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos para formalizar a adequação à política nacional.
Respostas: Regras específicas para municípios
- Gabarito: Errado
Comentário: O Plano de Mobilidade Urbana abrange não apenas o transporte público coletivo, mas também aspectos como circulação viária, acessibilidade e integração entre diferentes modos de transporte. É essencial compreender a amplitude e a diversidade de temas que o plano deve abranger, conforme mencionado nas diretrizes.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: Conforme estabelecido nas regras, os municípios com até 250.000 habitantes devem aprovar seus Planos de Mobilidade Urbana até 12 de abril de 2025. A data é crucial para a organização do planejamento urbano e deve ser memorizada pelos candidatos.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana se estende a municípios com mais de 20.000 habitantes, além daqueles que estão em regiões metropolitanas ou áreas de interesse turístico. Portanto, a afirmação acima é incorreta, pois ignora categorias adicionais de municípios.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A norma afirma que municípios sem sistema de transporte público coletivo devem priorizar o planejamento voltado para o transporte não motorizado, avaliando a infraestrutura para deslocamentos a pé e ciclismo. É uma diretriz essencial no contexto de mobilidade urbana.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: De fato, municípios com mais de 250.000 habitantes têm prazo até 12 de abril de 2024 para aprovar o seu plano, enquanto os menores têm um ano a mais, encerrando o prazo em 2025. Essa diferença cronológica é fundamental para a organização do planejamento.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A aprovação do plano deve ser comunicada à Secretaria Nacional, que supervisiona e monitora a implementação das políticas de mobilidade dentro do país. Essa formalidade é essencial para garantir o cumprimento das normas e facilitar o acompanhamento governamental.
Técnica SID: SCP
Instrumentos de Apoio e Disposições Finais (arts. 25 a 28)
Ações programáticas nos planos plurianuais
O planejamento governamental exige compromisso com a mobilidade urbana em todas as esferas: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A Lei nº 12.587/2012 organiza esse compromisso no Capítulo VI, partindo do princípio de que o desenvolvimento sustentável da mobilidade depende, antes de tudo, de ações programáticas claras, contínuas e integradas nos instrumentos oficiais de planejamento e orçamento.
Entenda que não basta prever políticas no papel: os planos plurianuais (PPA) e as leis de diretrizes orçamentárias (LDO) devem, obrigatoriamente, trazer ações e instrumentos voltados à mobilidade urbana. O legislador busca assegurar, mediante previsão expressa e vinculada às possibilidades financeiras, a implementação e o aprimoramento dos sistemas de mobilidade, sempre nos limites do orçamento disponível.
Art. 25. O Poder Executivo da União, o dos Estados, o do Distrito Federal e o dos Municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras e observados os princípios e diretrizes desta Lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços.
Observe como o artigo utiliza a expressão “segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras”. É um alerta importante: a estipulação de ações programáticas não é um cheque em branco. Ela respeita os limites reais de receita e despesa de cada ente federativo. Além disso, reforça a necessidade de alinhamento com os princípios e diretrizes da própria Lei de Mobilidade Urbana, evitando desvios de finalidade ou projetos desvinculados da política nacional.
Outro ponto fundamental: todas as propostas de planos plurianuais e as leis de diretrizes orçamentárias devem listar, de forma transparente, quais ações e instrumentos vão estruturar o aprimoramento dos sistemas de mobilidade e investir na qualidade dos serviços prestados à população. Não se trata apenas de prometer investimentos, mas de detalhar, no planejamento oficial, quais medidas concretas serão priorizadas em cada ciclo de governo.
Parágrafo único. A indicação das ações e dos instrumentos de apoio a que se refere o caput será acompanhada, sempre que possível, da fixação de critérios e condições para o acesso aos recursos financeiros e às outras formas de benefícios que sejam estabelecidos.
O parágrafo único traz um detalhe estratégico: sempre que possível, é necessário explicitar com clareza os critérios e condições de acesso aos recursos e benefícios relacionados à mobilidade urbana. Dessa maneira, evita-se subjetividade ou tratamentos desiguais entre os diferentes municípios, regiões ou projetos.
Na prática, significa que a previsão de recursos para mobilidade urbana — seja para implantação de ciclovias, renovação de frota de ônibus, projetos de acessibilidade ou integração modal — deve conter, desde o planejamento, regras transparentes sobre quem pode acessar, como, e em quais condições. Esse detalhamento reforça o controle social e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.
Pense em um edital de repasse de verbas do governo federal para municípios ampliarem a rede de transporte público. Segundo o parágrafo único, esse edital já deve apontar os requisitos: população mínima, apresentação de plano de mobilidade, contrapartidas financeiras, entre outros. Assim, garante-se que o acesso seja impessoal e ancorado em parâmetros previamente definidos.
Para o candidato, atenção máxima às palavras “sempre que possível, da fixação de critérios e condições”. Elas mostram que não é absoluto, mas sim uma orientação preferencial — a exceção deve ser justificada. Não confunda: a regra geral é detalhar critérios; somente em situações justificadas tal detalhamento pode ser dispensado.
Concluir a leitura deste artigo exige compreender que a legislação exige previsibilidade, controle e transparência desde o início do processo orçamentário e não apenas na execução das obras ou serviços de mobilidade urbana. Este é um ponto-chave para quem busca dominar a interpretação literal da Lei nº 12.587/2012 em provas de concurso.
Questões: Ações programáticas nos planos plurianuais
- (Questão Inédita – Método SID) O comprometimento dos entes federativos com a mobilidade urbana deve ser refletido nos planos e orçamentos públicos, sendo obrigatória a inclusão de ações programáticas e instrumentos de apoio para a melhoria dos sistemas de mobilidade urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) A simples inclusão de investimentos para mobilidade urbana nos orçamentos públicos garante a efetividade das políticas de mobilidade, independentemente da clareza dos critérios de aplicação desses recursos.
- (Questão Inédita – Método SID) O planejamento e implementação de ações programáticas voltadas à mobilidade urbana devem respeitar as possibilidades orçamentárias de cada ente federativo, o que impede a recomendação de investimentos ilimitados nessa área.
- (Questão Inédita – Método SID) Todas as propostas de planos plurianuais e leis de diretrizes orçamentárias são obrigadas a listar de forma transparente e abrangente as ações voltadas à mobilidade urbana, assegurando a previsibilidade de ações a serem tomadas a cada ciclo de governo.
- (Questão Inédita – Método SID) A expressão “sempre que possível” em relação à fixação de critérios para recursos financeiros sugere que a clareza e orientação podem ser dispensadas em qualquer situação no planejamento das ações de mobilidade urbana.
- (Questão Inédita – Método SID) O controle social sobre os investimentos em mobilidade urbana é reforçado pela necessidade de explicitação dos critérios de acesso aos recursos, o que aumenta a eficiência na aplicação dos recursos públicos.
Respostas: Ações programáticas nos planos plurianuais
- Gabarito: Certo
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 exige que os planos plurianuais e as leis de diretrizes orçamentárias incluam ações específicas para a mobilidade urbana, garantindo que haja um planejamento sólido e coerente com o desenvolvimento sustentável dessa área.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei prevê que, além da previsão orçamentária, os planos devem detalhar critérios e condições para o acesso a recursos, destacando a importância da transparência e previsibilidade na aplicação dos investimentos.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 ressalta que a estipulação de ações programáticas está condicionada às reais possibilidades financeiras de cada ente, visando um uso prudente dos recursos públicos.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A norma enfatiza a importância do detalhamento das medidas a serem priorizadas, passando a garantir que o investimento em mobilidade não seja meramente uma promessa, mas um compromisso real no planejamento governamental.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A expressão indica que a definição de critérios e condições é a regra geral, e a dispensa deve ser justificada, garantindo que haja previsibilidade e controle na aplicação de recursos.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Certo
Comentário: A clareza nos critérios de acesso não apenas favorece a transparência, mas também garante um tratamento igualitário entre diferentes projetos e municípios, fortalecendo a fiscalização e a responsabilidade na utilização dos recursos.
Técnica SID: PJA
Aplicação da lei a serviços intermunicipais e internacionais
O alcance territorial das normas da Lei nº 12.587/2012 merece atenção especial para quem estuda mobilidade urbana. Embora a lei trate predominantemente do transporte e da organização da mobilidade no âmbito municipal, há um momento em que ela deixa claro como seus dispositivos se estendem para além das fronteiras de um município.
É importante notar que, ao mencionar serviços intermunicipais, interestaduais e internacionais de caráter urbano, a lei orienta como deve ser feita a aplicação de suas regras nesses contextos ampliados. O estudante atento percebe que muitas bancas exploram justamente esse ponto: até onde a lei alcança? Ela valerá, por exemplo, para um transporte urbano intermunicipal? Veja abaixo a literalidade do artigo específico:
Art. 26. Esta Lei se aplica, no que couber, ao planejamento, controle, fiscalização e operação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano.
A primeira expressão que merece destaque é “no que couber”. Ao ler provas objetivas, cuidado: há diferença entre aplicar a lei integralmente e aplicá-la “no que couber”. Esse termo limita a abrangência, obrigando o examinador — e o próprio gestor público — a avaliar, caso a caso, que partes da lei são compatíveis com os serviços intermunicipais, interestaduais e internacionais.
Outro detalhe crucial está nos verbos utilizados: “planejamento, controle, fiscalização e operação”. Qualquer questão que restringir a aplicação da lei a apenas um desses elementos estará errada. O legislador foi amplo: são quatro funções administrativas que devem observar o texto legal, desde a fase inicial do planejamento até a execução cotidiana.
Por fim, repare que o artigo faz referência expressa aos serviços “de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano”. Não inclui, por exemplo, transporte rodoviário intermunicipal de caráter rural, transporte escolar ou situações em que não haja o caráter urbano definido na lei. A banca pode tentar induzir ao erro, apresentando exemplos limítrofes — mantenha sempre a vigilância na análise da expressão “caráter urbano”.
Para internalizar: qualquer regra da Lei nº 12.587/2012 que trate de mobilidade urbana municipal pode, desde que compatível (“no que couber”), orientar e disciplinar o funcionamento do transporte coletivo intermunicipal, interestadual e internacional, desde que esse serviço possua caráter urbano. Não caia na armadilha de pensar que a lei se restringe aos limites do município.
Questões: Aplicação da lei a serviços intermunicipais e internacionais
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 se aplica apenas ao planejamento de serviços de transporte público coletivo no âmbito municipal, sem considerar os contextos intermunicipais, interestaduais ou internacionais.
- (Questão Inédita – Método SID) A expressão “no que couber” na Lei nº 12.587/2012 indica que a aplicação das regras para serviços intermunicipais deve ser avaliada caso a caso, considerando a compatibilidade com as normas estabelecidas.
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 determina que os serviços de transporte coletivo intermunicipal devem observar somente o controle e fiscalização, desconsiderando o planejamento e a operação.
- (Questão Inédita – Método SID) A aplicação da Lei nº 12.587/2012 aos serviços de transporte intermunicipal é irrestrita, sem exigir consideração sobre o caráter urbano desses serviços.
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 orienta que as regras de mobilidade urbana se aplicam integralmente a todos os serviços de transporte público, independentemente de sua natureza ou contexto, incluindo os rurais.
- (Questão Inédita – Método SID) O transporte coletivo urbano, conforme a Lei nº 12.587/2012, deve ser planejado e operado com base nas diretrizes estabelecidas por essa norma, eliminando a necessidade de adaptações para casos intermunicipais ou interestaduais.
Respostas: Aplicação da lei a serviços intermunicipais e internacionais
- Gabarito: Errado
Comentário: A Lei nº 12.587/2012 se aplica ao planejamento, controle, fiscalização e operação de serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional, desde que possuam caráter urbano. Portanto, a afirmação de que a aplicação é restrita ao âmbito municipal está incorreta.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A expressão “no que couber” limita a abrangência da aplicação da lei, exigindo uma análise específica de quais partes são compatíveis com os serviços intermunicipais, interestaduais e internacionais. Isto é uma orientação importante para a implementação das normas.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei menciona explicitamente que as funções administrativas a serem observadas são planejamento, controle, fiscalização e operação, portanto restringir a aplicação a apenas duas destas funções está incorreto.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei se aplica aos serviços intermunicipais somente se estes tiverem caráter urbano, portanto, a afirmação de que a aplicação é irrestrita desconsidera um critério essencial previsto pela norma.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A lei é específica sobre serviços de transporte público coletivo urbano, e não se aplica a serviços rurais, portanto, a afirmação contém um erro fundamental ao generalizar a aplicação das normas.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Errado
Comentário: A norma exige que para a aplicação nos contextos intermunicipais e interestaduais, se leve em conta a compatibilidade das normas. Portanto, a afirmação sobre a eliminação de adaptações é incorreta.
Técnica SID: PJA
Vigência da norma
O momento em que uma lei passa a ter efeito é chamado de início de vigência. Esse detalhe costuma ser crucial nas provas, já que eventuais prazos para adequação das instituições e dos cidadãos à nova legislação começam a contar da data prevista na própria norma. A Lei nº 12.587/2012 estabeleceu um prazo específico para seu início de vigência, e essa informação está descrita de modo claro em seu dispositivo final.
Observe que, por vezes, a vigência não coincide com a data de publicação da lei. Essa diferença pode ser cobrada em questões de concursos, especialmente em alternativas que tentam confundir a data de publicação com a de entrada em vigor. Veja a literalidade do artigo que trata do tema:
Art. 28. Esta Lei entra em vigor 100 (cem) dias após a data de sua publicação.
Isso significa que a Lei nº 12.587/2012 não começou a produzir efeitos imediatamente em 3 de janeiro de 2012 (data de sua publicação), mas sim após transcorridos exatos 100 dias. Muitas vezes, candidatos se confundem em provas devido à pressa na leitura do artigo. A expressão “entra em vigor 100 (cem) dias após a data de sua publicação” exige atenção, pois qualquer cálculo de prazos, obrigações ou sanções decorrentes da norma só devem ser considerados após esse período.
Essa técnica de diferir a vigência é utilizada para dar tempo ao poder público, operadores do direito e cidadãos para se adaptarem às novas regras. Se surgir uma questão com a pergunta direta “A Lei de Mobilidade Urbana entrou em vigor na data de sua publicação?”, a resposta correta será ‘não’, pois foi estabelecido um intervalo de 100 dias. Gravar esse prazo pode ser decisivo para garantir pontos importantes em concursos que cobram detalhes legislativos.
Questões: Vigência da norma
- (Questão Inédita – Método SID) O início de vigência de uma norma legal refere-se ao momento em que a mesma começa a produzir efeitos, sendo essencial para o cálculo de prazos de adequação por parte de cidadãos e instituições.
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 passou a produzir efeitos imediatamente após sua publicação em 3 de janeiro de 2012, sem qualquer período de adaptação para os cidadãos.
- (Questão Inédita – Método SID) O dispositivo final da Lei nº 12.587/2012 estabelece um prazo de 100 dias para que a norma comece a vigorar, o que permite um período de adaptação para a sociedade e o poder público.
- (Questão Inédita – Método SID) A expressão ‘entra em vigor 100 (cem) dias após a data de sua publicação’ implica que a norma começa a produzir efeitos após esse prazo, e qualquer cálculo relacionado deve considerar a data de início da vigência.
- (Questão Inédita – Método SID) Diferentes datas de publicação e de início de vigência em uma norma legal geralmente não causam confusão aos candidatos em provas, pois este aspecto é amplamente compreendido.
- (Questão Inédita – Método SID) A Lei nº 12.587/2012 adotou a técnica de diferir a vigência com o objetivo de propiciar um tempo de adaptação necessário para as instituições e a sociedade.
Respostas: Vigência da norma
- Gabarito: Certo
Comentário: O início de vigência é de fato o momento em que a lei passa a ter efeitos, e isso é importante para que as partes interessadas saibam quando devem se adequar às disposições legais. No caso da Lei nº 12.587/2012, essa informação é clara e crucial para a aplicação da norma.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação está incorreta porque a Lei nº 12.587/2012 entrou em vigor 100 dias após a data de sua publicação, ou seja, não produziu efeitos imediatamente. Esse período de adaptação é garantido para que os cidadãos e órgãos públicos possam se adequar às novas regras.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: O dispositivo mencionado realmente estabelece um prazo de 100 dias para o início da vigência da lei, permitindo assim que os agentes envolvidos possam se preparar para cumprir suas disposições, sendo um recurso importante na aplicação de novas legislações.
Técnica SID: TRC
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação está correta, pois o enunciado explica corretamente que o prazo de 100 dias deve ser considerado para qualquer ação ou obrigação que envolva a norma. Essa informação é fundamental para evitar equívocos em interpretações legais.
Técnica SID: SCP
- Gabarito: Errado
Comentário: A afirmação é falsa uma vez que a disparidade entre a data de publicação e a data de início de vigência frequentemente gera confusão entre candidatos, conforme demonstrado pela prática de provas anteriores. É essencial que os candidatos prestem atenção a essa diferença.
Técnica SID: PJA
- Gabarito: Certo
Comentário: A afirmação é verdadeira, pois a técnica de diferir a vigência é realmente utilizada para permitir a adaptação adequada por parte dos cidadãos e do poder público. Isso ajuda a garantir que a implementação das novas regras ocorra de maneira organizada.
Técnica SID: TRC